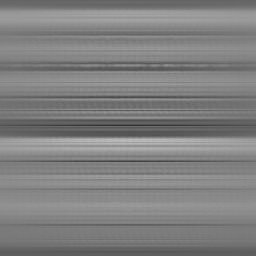OVO POSTO
Este blog está concluído.
Porquê OVO, perguntar-se-ão?
A resposta é tão clara como a clara de um ovo: surge o nome em questão das iniciais dos três livros que o constituem:
O jardim das silhuetas em pedra
Voyeur
O poeta
E que livro é este, então? Nada mais que a crónica do fim de uma relação amorosa, bem como do hiato temporal em que andei perdido de todos os caminhos, em busca de mim, que não sabia onde estava, nem quem era, nem o que queria.
Os escritores têm este defeito, que é o de usarem a sua vida como matéria-prima para fazerem os seus escritos. Se a matéria-prima não for muito boa, os livros também não o serão, muito provavelmente. Mas é preciso escrevê-los, mesmo assim, para nos libertarmos deles. Para passarmos aos seguintes. Para crescermos. Para renovarmos a matéria-prima que nos há-de levar ao derradeiro livro, aquele que é possível que nunca cheguemos a escrever.
Poeta, grava na pedra (mesmo que depois tenhas de a quebrar):
Não temerás o mal-entendido. Serás seu inimigo.
Não desejarás a lua. Ela já te pertence.
Não terás descanso. Nunca conhecerás o cansaço.
Esgotarás as imagens, para que se veja bem a máquina com que as fazes.
Não terás método.
Não serás estrangeiro.
Cantarás de olhos abertos, e de olhos abertos farás o amor.
Nunca andarás em grupo. Terás cabimento em todos.
Nunca darás o teu amor a uma só pessoa: só assim serás amado.
Poeta: tudo pela liberdade.
Uma única vida.
Não temerás o mal-entendido. Serás seu inimigo.
Não desejarás a lua. Ela já te pertence.
Não terás descanso. Nunca conhecerás o cansaço.
Esgotarás as imagens, para que se veja bem a máquina com que as fazes.
Não terás método.
Não serás estrangeiro.
Cantarás de olhos abertos, e de olhos abertos farás o amor.
Nunca andarás em grupo. Terás cabimento em todos.
Nunca darás o teu amor a uma só pessoa: só assim serás amado.
Poeta: tudo pela liberdade.
Uma única vida.
O poema é o bom momento, o gozo sem consciência, o rosto lavrado por rugas de riso; ou o vento forte dos promontórios a despentear e a velocidade ensolarada e a música altissonante.
O poeta é o que procura não falhar o poema, o bom momento. (Até daqui se podem ouvir ou pressentir os seus pensamentos: “será que traduzi bem a ideia do riso franco e aberto?, será que já alguém defrontou tempestades do alto de falésias?, e será que entendem como eu a beleza disso?, será que os stands vendem mais que carro utilitários?...”)
Poeta absoluto é o que faz o poema, haja o que houver.
O poeta é o que procura não falhar o poema, o bom momento. (Até daqui se podem ouvir ou pressentir os seus pensamentos: “será que traduzi bem a ideia do riso franco e aberto?, será que já alguém defrontou tempestades do alto de falésias?, e será que entendem como eu a beleza disso?, será que os stands vendem mais que carro utilitários?...”)
Poeta absoluto é o que faz o poema, haja o que houver.
O poema é a paciência.
É uma rapariga moderna a quem lêem histórias para acordar. Ela adormece. O poema dá-lhe pontapés, beijos.
Recomeçam. Durante toda a vida, haverá sempre alguém a contar aquelas histórias e sempre aquela rapariga a adormecer por causa delas.
Num dos últimos despertares, haverá também um espelho; ela ver-se-á nele, e ver-se-á velha.
Só o poema perdurará — a memória da suave rapariga no seu coração inesgotável.
É uma rapariga moderna a quem lêem histórias para acordar. Ela adormece. O poema dá-lhe pontapés, beijos.
Recomeçam. Durante toda a vida, haverá sempre alguém a contar aquelas histórias e sempre aquela rapariga a adormecer por causa delas.
Num dos últimos despertares, haverá também um espelho; ela ver-se-á nele, e ver-se-á velha.
Só o poema perdurará — a memória da suave rapariga no seu coração inesgotável.
O poema é a estadia na ausência, a permanência no distanciamento, é ser espiral sobre uma linha recta e linha recta a cruzar o céu.
Vocês não entendem... Não ouvem como ele o chamamento longínquo do fundo de si, a transparência das manhãs, não vêem o carro veloz mas silencioso que passa na estrada marginal... E, para quem não entende, todas as explicações são válidas, nenhuma explicação basta.
“O que mais custa a suportar”, diz o poeta, “é que, depois da árdua caminhada, já meio moribundo, alcançarei a grande cúpula de vidro escuro e resplandecente atrás da qual se resguarda o palácio dos meus desejos; com as mãos quase hirtas, limparei o pó do vidro e dos meus olhos velhos; e, todavia, não me será permitido ver. Morrerei interdito”.
Como explicar seja o que for a alguém?
Com que conhecimento, essa explicação?
Para quê explicar?
Como esperar que alguém entenda?
“Como se sentir bem sem precisar de explicações” — quantas, as lições?
Com que conhecimento, essa explicação?
Para quê explicar?
Como esperar que alguém entenda?
“Como se sentir bem sem precisar de explicações” — quantas, as lições?
O poeta no casino: louco da noite — as mais altas paradas.
Sussurra ele para a dama fatal: “é tudo uma questão de sorte”.
E não pensar, também: ter a noção exacta da grande piada.
Sussurra ele para a dama fatal: “é tudo uma questão de sorte”.
E não pensar, também: ter a noção exacta da grande piada.
Cinco depois de quatro e antes de seis, é simples mas implica uma ordem, uma ordenação. Tudo é ordem, desordem uns dos outros, universo e indivíduo. Nem sequer todo o mármore é igual: só de algum é que se fazem estátuas. Assim, as estátuas são a ordem, e os fazedores de estátuas também. Impossível chegar a uma solução, a um fim. Até isso terá de ser planeado: o momento de já não valer a pena, a interrogação constante, o silêncio absoluto — que sei eu? Tudo.
O poeta é o galeão afundado que ficaria facilmente ao nosso alcance, se o oceano desaparecesse. Mas que sabemos nós da facilidade?
E submetemo-nos de novo ao que é sombrio: a pressão exercida pelo peso do ar.
E submetemo-nos de novo ao que é sombrio: a pressão exercida pelo peso do ar.
Pediram-lhe: “olha para trás”. Mostravam-lhe o que tinha sido a sua vida até então.
Ele olhou. No fundo, não queria ver.
Hoje diz: “nunca, em toda a minha existência, eu senti tão grande dor, como nesse momento em que fui obrigado a aceitar aquela visão”.
Tinha sido como crescer de repente. Mas resistira bem.
Foi então também que os personagens paternalistas, translúcidos no céu, lhe deram palmadinhas nas costas e disseram uns para os outros, com evidente satisfação: “é um bom poeta”.
Ele olhou. No fundo, não queria ver.
Hoje diz: “nunca, em toda a minha existência, eu senti tão grande dor, como nesse momento em que fui obrigado a aceitar aquela visão”.
Tinha sido como crescer de repente. Mas resistira bem.
Foi então também que os personagens paternalistas, translúcidos no céu, lhe deram palmadinhas nas costas e disseram uns para os outros, com evidente satisfação: “é um bom poeta”.
Poeta, não pactues. Faz teu único excesso tu próprio. O poeta tem de ser o poeta. O poeta é o poeta.
“O poeta esquece-se de escrever os poemas, consome-os nos gestos, ninguém para os ver”, disse ele. O que não passa de uma verdade diminuída, ou de uma mentira complexa. Na verdade, não se esquece de escrever os poemas, mas vai adiando, certos versos de ouro. E nos gestos não tem tanta poesia assim.
Parece até que anda preocupado, o poeta, sempre a planear o futuro, sempre esquecido de hoje... E toda a gente a olhar.
Poeta, cuidado; nunca esqueças os poemas. Poetas nós somos; e, se falo contigo, é porque sei que me escutas. Atenção: nunca acredites em excessos. Porque o excesso é vertiginoso, mas é também uma prisão.
Poeta, tu és um edifício a cair aos bocados. Devemos nós acreditar na solidez das estruturas ocultas, para, a partir delas, construirmos a nova casa? Queremos crer que sim. Faz-nos um sinal.
Parece até que anda preocupado, o poeta, sempre a planear o futuro, sempre esquecido de hoje... E toda a gente a olhar.
Poeta, cuidado; nunca esqueças os poemas. Poetas nós somos; e, se falo contigo, é porque sei que me escutas. Atenção: nunca acredites em excessos. Porque o excesso é vertiginoso, mas é também uma prisão.
Poeta, tu és um edifício a cair aos bocados. Devemos nós acreditar na solidez das estruturas ocultas, para, a partir delas, construirmos a nova casa? Queremos crer que sim. Faz-nos um sinal.
Tanta conversa.
Tanta gente a dizer tanto acerca de tanta coisa.
Tantas coisas que ficam por dizer.
tantan tantan tantan tantan
Tanta gente a dizer tanto acerca de tanta coisa.
Tantas coisas que ficam por dizer.
tantan tantan tantan tantan
O poeta está, portanto:
na passagem da ponte (das alturas renegará a vertigem, embora a sinta) —
na travessia do oceano, para reencontrar terra (altas são as vagas; contudo não enjoa) —
na caminhada pelo deserto, para chegar à sua cidade (grande é a sede, mas maior a vontade de alcançar).
E vale bem a pena, todo este esforço imenso, porque a cidade desejada é mágica: atravessa-a o ar puro dos campos férteis, as coisas voam, habitam-na homens e mulheres de inteireza.
O melhor será mesmo não dizer, poupar-se: longo e austero é o caminho ainda a percorrer.
Vencer: a derrota perfeita.
E rir, até: mais perfeição.
Fabuloso é o poeta que sabe.
na passagem da ponte (das alturas renegará a vertigem, embora a sinta) —
na travessia do oceano, para reencontrar terra (altas são as vagas; contudo não enjoa) —
na caminhada pelo deserto, para chegar à sua cidade (grande é a sede, mas maior a vontade de alcançar).
E vale bem a pena, todo este esforço imenso, porque a cidade desejada é mágica: atravessa-a o ar puro dos campos férteis, as coisas voam, habitam-na homens e mulheres de inteireza.
O melhor será mesmo não dizer, poupar-se: longo e austero é o caminho ainda a percorrer.
Vencer: a derrota perfeita.
E rir, até: mais perfeição.
Fabuloso é o poeta que sabe.
Diz:
“O tempo está do meu lado, o povo pertence-me. Só eu terei a genuína arrogância de ser meu inimigo. Todos os outros: tentadores. E também gente de bailes e carnavais: folionas nuas, orelhas grandes...
Agora, somente a consciência da ambição de tudo isso”.
“O tempo está do meu lado, o povo pertence-me. Só eu terei a genuína arrogância de ser meu inimigo. Todos os outros: tentadores. E também gente de bailes e carnavais: folionas nuas, orelhas grandes...
Agora, somente a consciência da ambição de tudo isso”.
Coloca-se o poeta imóvel, defronte do espelho. Mas a imagem agita-se, a imagem diz:
“Não falarás sem saber, não falarás sem fazer. No feito está o dito. Falar é beber, beber é esquecer, calar é fazer”.
A imagem aquieta-se.
Inquieto, o poeta ergue-se. Falará ainda, mas sem nada dizer. Porque, quando o forem ver, ele lá estará: longe dos espelhos, acontecimento, poeta absoluto.
“Não falarás sem saber, não falarás sem fazer. No feito está o dito. Falar é beber, beber é esquecer, calar é fazer”.
A imagem aquieta-se.
Inquieto, o poeta ergue-se. Falará ainda, mas sem nada dizer. Porque, quando o forem ver, ele lá estará: longe dos espelhos, acontecimento, poeta absoluto.
No ser inscreve-se o acontecimento.
O acontecimento circunscreve o ser.
O ter é não ter.
O poder de posse é o ser.
O ser é o acontecimento em estado de posse.
O ser é.
O acontecimento circunscreve o ser.
O ter é não ter.
O poder de posse é o ser.
O ser é o acontecimento em estado de posse.
O ser é.
Se eu quisesse um vulcão, seria um dragão. Acontece-me sempre assim — ao contrário. Mas não tem importância: qualquer que fosse o caso, o fogo estaria lá.
“Curta quero a solidão, esse mal que tanto dos outros como de mim me chega. A condescendência é a minha fraqueza.
Depois de domar as palavras e os sons, fascinado, procurarei sem frenesim um carinho seguro, uma atenção que me adormeça sem me dar sono, um calor que não definhe em dúvida. Creio que deve haver tudo isto neste planeta onde por acaso vim cair”.
Depois de domar as palavras e os sons, fascinado, procurarei sem frenesim um carinho seguro, uma atenção que me adormeça sem me dar sono, um calor que não definhe em dúvida. Creio que deve haver tudo isto neste planeta onde por acaso vim cair”.
“Estou preso nas palavras. Tenho de me livrar delas depressa.
Esta a minha dor de agora. É que já me tardam as imagens, o movimento, o magnífico silêncio das imagens em movimento.
E para os cegos, cantarei”.
Esta a minha dor de agora. É que já me tardam as imagens, o movimento, o magnífico silêncio das imagens em movimento.
E para os cegos, cantarei”.
Dizem-me: “raio de poeta, só pensas em ti”.
“Só em mim não penso”, respondo.
Riem-se.
Valerá a pena dizer mais? Não quero pensar. Sejam e deixem ser. A realidade é falsa, a invenção é falsa. A física e a química proíbem a magia. A mentira faz sofrer tanto como a verdade, a coragem tem definição na letra C, o respeito na letra R, o dicionário é de capa dura e bem cuidada.
Disto sim, é possível rir.
“Só em mim não penso”, respondo.
Riem-se.
Valerá a pena dizer mais? Não quero pensar. Sejam e deixem ser. A realidade é falsa, a invenção é falsa. A física e a química proíbem a magia. A mentira faz sofrer tanto como a verdade, a coragem tem definição na letra C, o respeito na letra R, o dicionário é de capa dura e bem cuidada.
Disto sim, é possível rir.
“Eis a realidade:
Dizem-me: senta-te aí; tudo é cheio de graça, pleno de beleza; entusiasma-te.
Pois bem, não consigo. Amén. Bocejo. A culpa deve ser minha; porque, se eu quisesse, também acreditava — beleza, gozo — , e todo eu seria entusiasmo. Assim, não sou. Azar. Não quero. Não acredito em directores de empresas nem em contos de fadas. Nem sequer estou exactamente no meio: perante a posição relativa, opto pela absoluta”.
Dizem-me: senta-te aí; tudo é cheio de graça, pleno de beleza; entusiasma-te.
Pois bem, não consigo. Amén. Bocejo. A culpa deve ser minha; porque, se eu quisesse, também acreditava — beleza, gozo — , e todo eu seria entusiasmo. Assim, não sou. Azar. Não quero. Não acredito em directores de empresas nem em contos de fadas. Nem sequer estou exactamente no meio: perante a posição relativa, opto pela absoluta”.
Prosseguiu.
“Falam comigo. As palavras que me dizem são gotículas de saliva a caírem-me em cima.
Gotículas: enredos amorosos, enredos de amizade, enredos. Complicações. Lixo.
Gotículas: maluquices de algibeira, maluquices sem malucos, maluquices de tédio. Comichões na cabeça. Lixo.
Gotículas: jogos de frustração, jogos de conversa fiada, jogos de trabalho inútil. Desonestidade. Lixo.
Estou farto de tomar banho por causa disto. Sou eu alguma lixeira?”
“Falam comigo. As palavras que me dizem são gotículas de saliva a caírem-me em cima.
Gotículas: enredos amorosos, enredos de amizade, enredos. Complicações. Lixo.
Gotículas: maluquices de algibeira, maluquices sem malucos, maluquices de tédio. Comichões na cabeça. Lixo.
Gotículas: jogos de frustração, jogos de conversa fiada, jogos de trabalho inútil. Desonestidade. Lixo.
Estou farto de tomar banho por causa disto. Sou eu alguma lixeira?”
“Não sonhemos? Está bem, aceito. Mas então, que nada seja real”.
Estas palavras eram o poeta a esvaziar-se, no confronto consigo próprio.
“Compreendo”, disse ele a seguir, entre silêncios.
Estas palavras eram o poeta a esvaziar-se, no confronto consigo próprio.
“Compreendo”, disse ele a seguir, entre silêncios.
A questão não era grave, porque o poeta ainda se encontrava em plena juventude. Cansado da busca, é certo, mas incapaz de outra coisa que não isso.
Entretanto, os poderes não se tornavam honestos, os amigos não se levantavam das mesas, as mulheres não se rendiam incondicionalmente. E não era uma guerra, era um tédio.
E tentar para quê? Bastava-lhe ficar imóvel e sereno, pensar um pouco.
Assim se poupou. Por si só, sem auxílio nem compreensão exteriores, o vulcão começou a formar-se, a crescer. Primeiro, encheu a casa. Foi preciso tirar tudo, para que ele pudesse caber. A dado passo, estava já crescido de mais, quase a conceder verdadeira lava, e não aquele simulacro que do poeta tanto apreciavam, como se ele só valesse isso.
Abriram-se brechas nas paredes, a casa acabou por ir abaixo. Na noite, ruídos de coisas a rasgarem-se e a explodir soaram alta e intensamente, por algum tempo.
Veio então o dia em que o vulcão se revelou à luz, e como luz, para espanto do próprio poeta: porque aquele animal de dilúvios tinha asas — voava.
Por fim, a lava estava pronta para nascer. E o parto era sem tempo, toda a vida o parto.
Sentado no cume do seu vulcão, o poeta.
Veio a lava; o poeta ergueu-se. Chamas colossais envolveram-no, matéria de fogo em jorros atravessou-o sem o consumir. Ardia, o poeta, e a arder ria-se. Ele ria.
“A partir de agora”, disse, com uma nova voz, poderosa, “será sempre assim”.
E, pela primeira vez, todos o ouviram.
Entretanto, os poderes não se tornavam honestos, os amigos não se levantavam das mesas, as mulheres não se rendiam incondicionalmente. E não era uma guerra, era um tédio.
E tentar para quê? Bastava-lhe ficar imóvel e sereno, pensar um pouco.
Assim se poupou. Por si só, sem auxílio nem compreensão exteriores, o vulcão começou a formar-se, a crescer. Primeiro, encheu a casa. Foi preciso tirar tudo, para que ele pudesse caber. A dado passo, estava já crescido de mais, quase a conceder verdadeira lava, e não aquele simulacro que do poeta tanto apreciavam, como se ele só valesse isso.
Abriram-se brechas nas paredes, a casa acabou por ir abaixo. Na noite, ruídos de coisas a rasgarem-se e a explodir soaram alta e intensamente, por algum tempo.
Veio então o dia em que o vulcão se revelou à luz, e como luz, para espanto do próprio poeta: porque aquele animal de dilúvios tinha asas — voava.
Por fim, a lava estava pronta para nascer. E o parto era sem tempo, toda a vida o parto.
Sentado no cume do seu vulcão, o poeta.
Veio a lava; o poeta ergueu-se. Chamas colossais envolveram-no, matéria de fogo em jorros atravessou-o sem o consumir. Ardia, o poeta, e a arder ria-se. Ele ria.
“A partir de agora”, disse, com uma nova voz, poderosa, “será sempre assim”.
E, pela primeira vez, todos o ouviram.
Foi então falar com os que não tinham posição definida. Conhecia-os há muito, deram-lhe todo o tempo que precisasse. Decidiu arriscar. Falou. Talvez de mais.
Deram-lhe palmadas amistosas nas costas. Fazer um vulcão era, sem dúvida, uma ideia muito engraçada. Não servia para nada, quase de certeza, mas a lava era boa. Fartaram-se de falar em tudo o que era possível fazer. Não fizeram nada.
O poeta, incansável, falou de seguida às mulheres, que eram à parte. Muitas o escutaram.
Nem sequer o ouviram. Queriam dar-lhe o seu amor, as perdidas, mas por amor delas. A ele, mal o viam; permaneciam em adoração.
Quanto ao vulcão, diziam que era um belo objecto, equivocadas. Talvez bom para decorar a casa, no futuro. E a lava, não sabiam apreciá-la; apenas a queriam sentir: penetração, viscosidade, incêndio dos seus corpos inseguros.
No fim, tornavam-se inimigas de tudo isso, e falavam muito da vida, a todos os momentos, como se soubessem.
Assinalou distância, o poeta. (De vez em quando, passava por lá, ainda, prisioneiro de um feitiço que não queria entender. Acendia velas, cerimónias, mas o jogo era sempre o mesmo.)
Deram-lhe palmadas amistosas nas costas. Fazer um vulcão era, sem dúvida, uma ideia muito engraçada. Não servia para nada, quase de certeza, mas a lava era boa. Fartaram-se de falar em tudo o que era possível fazer. Não fizeram nada.
O poeta, incansável, falou de seguida às mulheres, que eram à parte. Muitas o escutaram.
Nem sequer o ouviram. Queriam dar-lhe o seu amor, as perdidas, mas por amor delas. A ele, mal o viam; permaneciam em adoração.
Quanto ao vulcão, diziam que era um belo objecto, equivocadas. Talvez bom para decorar a casa, no futuro. E a lava, não sabiam apreciá-la; apenas a queriam sentir: penetração, viscosidade, incêndio dos seus corpos inseguros.
No fim, tornavam-se inimigas de tudo isso, e falavam muito da vida, a todos os momentos, como se soubessem.
Assinalou distância, o poeta. (De vez em quando, passava por lá, ainda, prisioneiro de um feitiço que não queria entender. Acendia velas, cerimónias, mas o jogo era sempre o mesmo.)
Um poeta foi falar com os poderes. Queria erguer um vulcão. Não o receberam.
Decidiu ser paciente. Assim, esperou e insistiu durante uma semana, todos os dias. Até mesmo os horários ele aceitou: só saía da sala de recepção para almoçar. E comia bem, bebia bom vinho. À tarde, estava sempre mais alegre. Já tinha amigos entre os funcionários: escutava-lhes os problemas, ria-se deles.
Finalmente, receberam-no: por cinco minutos.
Disse: “tenho o projecto para um vulcão”.
Quiseram saber para que é que isso servia.
“É por causa da lava”, começou o poeta a dizer. Mas cinco minutos não bastavam para a totalidade de tão pura explicação. Calou-se. O projecto não foi aceite.
Decidiu ser paciente. Assim, esperou e insistiu durante uma semana, todos os dias. Até mesmo os horários ele aceitou: só saía da sala de recepção para almoçar. E comia bem, bebia bom vinho. À tarde, estava sempre mais alegre. Já tinha amigos entre os funcionários: escutava-lhes os problemas, ria-se deles.
Finalmente, receberam-no: por cinco minutos.
Disse: “tenho o projecto para um vulcão”.
Quiseram saber para que é que isso servia.
“É por causa da lava”, começou o poeta a dizer. Mas cinco minutos não bastavam para a totalidade de tão pura explicação. Calou-se. O projecto não foi aceite.
“Se o silêncio é d’oiro”, disse o poeta, “então o silêncio pertence-me”.
Cambada d’imbecis. Para quê perder-me em tempo e atenção convosco? Já fui, nessa oferta, ao ponto de só vos contar histórias breves, às vezes meras anedotas. Mas nem assim: limitaram-se a dizer sim, com um riso acoplado que não era espacial nem nada. (Tudo vos serve a embriaguez, dá para pasmar...) Ou então dizem não, a rigor, como se por obrigação, argumentação, desporto à mesa. Sou o poeta cansado disso: já nem me espanto, e sofro daquela falta de infância que nada tem a ver com a idade.
“Terei de continuar a destruir”, disse o poeta. “Já não suporto divindades, mas ainda pretendo comunhão”.
Cambada d’imbecis. Para quê perder-me em tempo e atenção convosco? Já fui, nessa oferta, ao ponto de só vos contar histórias breves, às vezes meras anedotas. Mas nem assim: limitaram-se a dizer sim, com um riso acoplado que não era espacial nem nada. (Tudo vos serve a embriaguez, dá para pasmar...) Ou então dizem não, a rigor, como se por obrigação, argumentação, desporto à mesa. Sou o poeta cansado disso: já nem me espanto, e sofro daquela falta de infância que nada tem a ver com a idade.
“Terei de continuar a destruir”, disse o poeta. “Já não suporto divindades, mas ainda pretendo comunhão”.
Diz o poeta:
“Nada de bebedeiras. Serei puro como o diamante. Único”.
E diz:
“E nada de conversas aos serões: para quê conceder brilho aos que só falam? Serei definitivamente um pouco de tudo, no desencontro dos tempos”.
“Nada de bebedeiras. Serei puro como o diamante. Único”.
E diz:
“E nada de conversas aos serões: para quê conceder brilho aos que só falam? Serei definitivamente um pouco de tudo, no desencontro dos tempos”.
Diz o poeta:
“Beberei. Farei amor. Darei à minha arte a sua grande dimensão. Sem pais, sem filhos. Momentos únicos”.
E diz:
“Dormirei. Conversas aos serões. Serei definitivamente o amante do verão, a euforia das tempestades, o desprezo dos meios”.
“Beberei. Farei amor. Darei à minha arte a sua grande dimensão. Sem pais, sem filhos. Momentos únicos”.
E diz:
“Dormirei. Conversas aos serões. Serei definitivamente o amante do verão, a euforia das tempestades, o desprezo dos meios”.
O poeta proclama o esquecimento, exige mais ilusão ainda — farto de si, esfomeado para viagens orientais em que os capitães fumam drogas absurdas, e os estrangeiros apodrecem na sabedoria poente dos tombadilhos.
“Atroz”.
“Mau-para-si”.
Sofrimentos assumidos que não quer sofrer.
“Poeta, vais saborear a miséria, dançar com o luxo. Mas de nada te servirá isso: serás sempre o que não és, e sempre o que és”.
“Mau-para-si”.
Sofrimentos assumidos que não quer sofrer.
“Poeta, vais saborear a miséria, dançar com o luxo. Mas de nada te servirá isso: serás sempre o que não és, e sempre o que és”.
Procura-se numa só palavra defini-lo. É possível. Há-de conseguir-se.
O que escreve aponta:
“Talvez seja
Silêncio — o não haver palavras”.
O que escreve aponta:
“Talvez seja
Silêncio — o não haver palavras”.
Indiferente, faz a diferença.
Aqui invejam-no, ali admiram-no.
Mas nunca há saúde no modo como o sentem. Será ele pai de alguma doença árdua?
Aqui invejam-no, ali admiram-no.
Mas nunca há saúde no modo como o sentem. Será ele pai de alguma doença árdua?
Ao poeta amam, dizem. Todavia, caso estranho, parece que nunca lhe querem bem: porque, ao julgarem-no pessoa igual a pessoas, não lhe respeitam a falta de regras, o ser, o constante fluir.
Uma justa imagem do poeta é quando lhe perguntam:
“Onde vives?”
“Fora de casa”, responde ele.
“O que é que tens?”
“Tudo o que sou”, responde ele.
“Quem amas?”
“As pedras, que não fazem perguntas”, responde ele.
“Onde vives?”
“Fora de casa”, responde ele.
“O que é que tens?”
“Tudo o que sou”, responde ele.
“Quem amas?”
“As pedras, que não fazem perguntas”, responde ele.
Dizem ao poeta: “Tu és aquele que rouba os chupa-chupas às crianças”.
“Pois sou”, confirma o poeta. “Mas, mais tarde, já homens e mulheres, agradecer-me-ão essa aparente crueldade, porque ela lhes dará os dentes sãos da idade adulta”.
“Pois sou”, confirma o poeta. “Mas, mais tarde, já homens e mulheres, agradecer-me-ão essa aparente crueldade, porque ela lhes dará os dentes sãos da idade adulta”.
A utopia é lírica: combate com a moral.
O lixo íntimo é moral: deturpa a utopia.
Mas, neste mundo, neste tempo, quem não conhece o lixo também nunca conhecerá a utopia: viverá apenas em moral, sempre em risco de transgressão fechada, revolta estéril.
O lixo íntimo é moral: deturpa a utopia.
Mas, neste mundo, neste tempo, quem não conhece o lixo também nunca conhecerá a utopia: viverá apenas em moral, sempre em risco de transgressão fechada, revolta estéril.
Poeta, eu, julguei trepar à colina, para alcançar a fortaleza, mas ainda alerta, pronto a responder a qualquer um dos últimos perigos inesperados que tal aventura podia implicar.
Afinal, o que vi foi as pedras a crescerem do chão, à minha volta. Mas pareciam sair de mim.
Depressa me vi rodeado por uma grande torre sem portas; no interior, apenas uma escada em caracol, que me pus a escalar até atingir o céu aberto. Era uma torre altíssima, mas de repente reparei que tinha só um pouco menos que a minha altura. Assim, pude ver o mundo todo em redor, e até muito longe. Respirei do ar o puro.
Prosaica fortaleza. Pois seria aquilo? Era aquilo que eu queria? Aquele olhar de longe para a paisagem e não ir lá? E o ar? E o frio das pedras?
Não senti nada de mim. Tentei lembrar-me do deserto exacto onde se situava aquele bar em que me tinham contado pela primeira vez a história da fortaleza. Pensei: “deve ter sido uma grande bebedeira...”
Respirei.
As pedras resvalaram comigo pela encosta abaixo, frágeis e leves como se não passassem de cenário. Mas a relva era verdadeira, verde e macia, e não cheirava a cola nem a cimento. Não me magoei. Adormeci.
Depois dei por mim a acordar na minha cama, rodeado de perfumes de mulheres. Fiz a barba, estranho. Lavei-me. Lavei-me durante muito tempo.
Nu, ainda molhado, fui sentar-me no pedestal-mármore, e deixei-me ficar assim, a tentar lembrar-me de uma coisa que não sabia o que era, mas que era sempre o mesmo, com certeza.
Afinal, o que vi foi as pedras a crescerem do chão, à minha volta. Mas pareciam sair de mim.
Depressa me vi rodeado por uma grande torre sem portas; no interior, apenas uma escada em caracol, que me pus a escalar até atingir o céu aberto. Era uma torre altíssima, mas de repente reparei que tinha só um pouco menos que a minha altura. Assim, pude ver o mundo todo em redor, e até muito longe. Respirei do ar o puro.
Prosaica fortaleza. Pois seria aquilo? Era aquilo que eu queria? Aquele olhar de longe para a paisagem e não ir lá? E o ar? E o frio das pedras?
Não senti nada de mim. Tentei lembrar-me do deserto exacto onde se situava aquele bar em que me tinham contado pela primeira vez a história da fortaleza. Pensei: “deve ter sido uma grande bebedeira...”
Respirei.
As pedras resvalaram comigo pela encosta abaixo, frágeis e leves como se não passassem de cenário. Mas a relva era verdadeira, verde e macia, e não cheirava a cola nem a cimento. Não me magoei. Adormeci.
Depois dei por mim a acordar na minha cama, rodeado de perfumes de mulheres. Fiz a barba, estranho. Lavei-me. Lavei-me durante muito tempo.
Nu, ainda molhado, fui sentar-me no pedestal-mármore, e deixei-me ficar assim, a tentar lembrar-me de uma coisa que não sabia o que era, mas que era sempre o mesmo, com certeza.
A fortaleza é uma construção num lugar elevado e nu. O poeta olha-a, lá do fundo do vale. Tem os pensamentos claros, mas os sentimentos cheios de imagens: aquilo surgiu tão de súbito que um sobressalto ecoou nos amplos salões do seu coração. É como se se dissesse: “o rei não morreu”, ou: “o desaparecido regressou”.
Ou não é nada disso, mas imagens, somente: tudo o que se crê que se acredita, talvez, de uma só vez.
Inesperadamente, o poeta tem todo o aspecto de um homem: a pele suja de muita poeira, as olheiras cansadas sob o olhar brilhante, a roupa gasta, o odor a suor, a barba crescida.
É um homem, o poeta, e ei-lo na última etapa de um sonho maior.
Ouço-o a falar em voz alta, para si próprio:
“Já leste este livro?”
Porque ele está a lê-lo, com uma boa largura de ombros. E está a gostar, e pensa: “do princípio ao fim”.
Ou não é nada disso, mas imagens, somente: tudo o que se crê que se acredita, talvez, de uma só vez.
Inesperadamente, o poeta tem todo o aspecto de um homem: a pele suja de muita poeira, as olheiras cansadas sob o olhar brilhante, a roupa gasta, o odor a suor, a barba crescida.
É um homem, o poeta, e ei-lo na última etapa de um sonho maior.
Ouço-o a falar em voz alta, para si próprio:
“Já leste este livro?”
Porque ele está a lê-lo, com uma boa largura de ombros. E está a gostar, e pensa: “do princípio ao fim”.
(Sou o poeta. É admissível. Quero eu dizer que admito essa realidade: os factos e as circunstâncias, tais como são.)
O poeta vai de viagem, na aventura. Depois das boleias, teve de se dedicar aos expedientes, à sabedoria das ocasiões. O acaso, em suma.
Agora vai a pé. Pensa.
Esta terra é selvagem. Selva, ou aridez. Janta numa estalagem surpreendente, em certo ponto do caminho. Embebeda-se. Grandes gargalhadas na sala nobre.
Depois de dormir, sai e enfrenta o dragão, tal como já sabemos. Sejamos generosos: o poeta vence o combate.
Prossegue.
Será que se chega a algum lado? Complicações, etc.
Mas é-lhe indiferente. Porque tudo existe — e, contudo, ele sabe o que quer.
Vêm os mosquitos e as febres, as areias movediças, os desertos escaldantes, os rios rápidos, os fantasmagóricos inimigos mitológicos. Traduzindo: toda aquela pandilha folclórica das aventuras estereotipadas.
E o poeta luta, canta, rasga papelões: até a palhaçada é preciso acreditá-la, para vencê-la.
Etc., ainda.
O poeta vai de viagem, na aventura. Depois das boleias, teve de se dedicar aos expedientes, à sabedoria das ocasiões. O acaso, em suma.
Agora vai a pé. Pensa.
Esta terra é selvagem. Selva, ou aridez. Janta numa estalagem surpreendente, em certo ponto do caminho. Embebeda-se. Grandes gargalhadas na sala nobre.
Depois de dormir, sai e enfrenta o dragão, tal como já sabemos. Sejamos generosos: o poeta vence o combate.
Prossegue.
Será que se chega a algum lado? Complicações, etc.
Mas é-lhe indiferente. Porque tudo existe — e, contudo, ele sabe o que quer.
Vêm os mosquitos e as febres, as areias movediças, os desertos escaldantes, os rios rápidos, os fantasmagóricos inimigos mitológicos. Traduzindo: toda aquela pandilha folclórica das aventuras estereotipadas.
E o poeta luta, canta, rasga papelões: até a palhaçada é preciso acreditá-la, para vencê-la.
Etc., ainda.
Por uma vez, encaremos inequivocamente o sonho, e tentemos ver o que ele vale, tanto como o que é, e para que serve.
Encaremos a fortaleza, portanto. Primeiro que tudo: o que é?
Devem lembrar-se ainda de como enchemos a nossa infância de lendas onde imperavam lâmpadas mágicas, anéis de desejos, espadas encantadas — todo um mundo, enfim, de objectos capazes de, por magia, transformar a realidade. Mais especificamente, podemos até recordar uma história em que um cavaleiro de armadura branca parte em busca de um tal Santo Graal, que é uma taça por onde bebe vinho um tal Jesus Cristo, numa certa Última Ceia.
Talvez seja agora o tempo de esquecer de vez os enganos da infância, e partir directamente dessa história do cavaleiro, que é um símbolo perfeito. E se nós temos, de facto, uma sabedoria que nos permite fazer uma boa leitura das simbologias, então não nos será difícil equiparar a fortaleza com o Santo Graal, embora omitindo Cristo, porque a personagem aqui é o poeta, e o realizador não é americano (por mais que pudesse sê-lo). Além disso, a fortaleza é superior e mais-que-perfeita, enquanto sonho-símbolo, porque o lema da sua essência é um infinito: “Ser tudo o que se quiser”. E aqui chegamos, sem dúvida, ao cerne do sonho que a fortaleza é. SER TUDO é SER MUITO. É de mais. (Não haver fim sempre nos assombrou.)
Por isso eu, o poeta, o entendo tão bem, e aceito-o, e assumo-o. Quer dizer: porque a fortaleza admite todos os caminhos e todos os caminhos me admitem, a fortaleza torna-se, naturalmente, o meu sonho. O sonho perfeito. O sonho que me conduz à possibilidade da própria perfeição de mim.
Cada ser tem a sua fortaleza.
Portanto, não me façam parar: quero alcançar a minha.
Encaremos a fortaleza, portanto. Primeiro que tudo: o que é?
Devem lembrar-se ainda de como enchemos a nossa infância de lendas onde imperavam lâmpadas mágicas, anéis de desejos, espadas encantadas — todo um mundo, enfim, de objectos capazes de, por magia, transformar a realidade. Mais especificamente, podemos até recordar uma história em que um cavaleiro de armadura branca parte em busca de um tal Santo Graal, que é uma taça por onde bebe vinho um tal Jesus Cristo, numa certa Última Ceia.
Talvez seja agora o tempo de esquecer de vez os enganos da infância, e partir directamente dessa história do cavaleiro, que é um símbolo perfeito. E se nós temos, de facto, uma sabedoria que nos permite fazer uma boa leitura das simbologias, então não nos será difícil equiparar a fortaleza com o Santo Graal, embora omitindo Cristo, porque a personagem aqui é o poeta, e o realizador não é americano (por mais que pudesse sê-lo). Além disso, a fortaleza é superior e mais-que-perfeita, enquanto sonho-símbolo, porque o lema da sua essência é um infinito: “Ser tudo o que se quiser”. E aqui chegamos, sem dúvida, ao cerne do sonho que a fortaleza é. SER TUDO é SER MUITO. É de mais. (Não haver fim sempre nos assombrou.)
Por isso eu, o poeta, o entendo tão bem, e aceito-o, e assumo-o. Quer dizer: porque a fortaleza admite todos os caminhos e todos os caminhos me admitem, a fortaleza torna-se, naturalmente, o meu sonho. O sonho perfeito. O sonho que me conduz à possibilidade da própria perfeição de mim.
Cada ser tem a sua fortaleza.
Portanto, não me façam parar: quero alcançar a minha.
Vai-se a pé, vai-se à boleia, agarra-se a companhia de um cavalo que fala, de uma águia que tem asas de sonho, de um executivo com carro de luxo.
“Para onde vais?”, perguntam todos.
“Para longe”.
Vou para onde tu fores, porque todos os caminhos me pertencem.
Para quê falar da fortaleza? Se a encontrar, então também vocês hão-de tê-la, para terem ou serem tudo o que quiserem, ou até para somente a verem, ou sentirem.
Mas a busca é minha.
“Para onde vais?”, perguntam todos.
“Para longe”.
Vou para onde tu fores, porque todos os caminhos me pertencem.
Para quê falar da fortaleza? Se a encontrar, então também vocês hão-de tê-la, para terem ou serem tudo o que quiserem, ou até para somente a verem, ou sentirem.
Mas a busca é minha.
O poeta estava sentado no pedestal-mármore dos seus pensamentos. Fez um trocadilho ocasional (“pencimentos”), e essa solidez do material fê-lo lembrar-se, inesperadamente, da história da fortaleza, que alguém lhe contara já há muito tempo, em outra terra, num bar muito movimentado, já a noite ia longa, e larga a embriaguez.
Mas o que era a fortaleza?
“É tudo o que tu quiseres”, dissera o contador de histórias, os olhos brilhantes como promessas de tesouros. “Consegues imaginar tamanha fantasia? Por isso é que se torna tão difícil e tão perigoso conquistá-la”.
O tempo passou. Aparentemente, o poeta esqueceu. Histórias já ele ouvira muitas.
Mas agora, de repente, ali estava ela outra vez, aquela coisa da fortaleza — tudo o que ele quisesse.
Desceu do pedestal, encolheu os ombros. Porque não? Os sonhos dos doidos sempre tinham sido um dos terrenos privilegiados pela sua presença.
Como não usava bagagem, foi-lhe fácil decidir-se. Ergueu a rosa-dos-ventos à altura dos olhos e soprou-a: levantou-se uma nuvem de poeira odorífera, todas as direcções se iluminaram.
Há algum tempo já que não viajava. Saudou a aventura, que o acordara mesmo no momento certo.
Mas o que era a fortaleza?
“É tudo o que tu quiseres”, dissera o contador de histórias, os olhos brilhantes como promessas de tesouros. “Consegues imaginar tamanha fantasia? Por isso é que se torna tão difícil e tão perigoso conquistá-la”.
O tempo passou. Aparentemente, o poeta esqueceu. Histórias já ele ouvira muitas.
Mas agora, de repente, ali estava ela outra vez, aquela coisa da fortaleza — tudo o que ele quisesse.
Desceu do pedestal, encolheu os ombros. Porque não? Os sonhos dos doidos sempre tinham sido um dos terrenos privilegiados pela sua presença.
Como não usava bagagem, foi-lhe fácil decidir-se. Ergueu a rosa-dos-ventos à altura dos olhos e soprou-a: levantou-se uma nuvem de poeira odorífera, todas as direcções se iluminaram.
Há algum tempo já que não viajava. Saudou a aventura, que o acordara mesmo no momento certo.
O acesso à fortaleza faz-se por terras de uma beleza incorrupta, mas também por terras de perigos imensos.
Em certo lugar, por exemplo, luta-se com um dragão que cospe fogo. Nenhuma donzela para defender. Defende-se só a própria pele. Dizem que o intuito do dragão é devorar os homens que se atrevem a entrar no seu território. Dizem que é um dragão guloso da nossa carne tenra. Não é essa, no entanto, a opinião que tenho: a minha carne é dura, e vejo que o prazer do dragão só se torna grande na luta.
Mas talvez o melhor seja ir até ao início, porque a aventura começa no momento em que se toma a decisão de vivê-la.
Em certo lugar, por exemplo, luta-se com um dragão que cospe fogo. Nenhuma donzela para defender. Defende-se só a própria pele. Dizem que o intuito do dragão é devorar os homens que se atrevem a entrar no seu território. Dizem que é um dragão guloso da nossa carne tenra. Não é essa, no entanto, a opinião que tenho: a minha carne é dura, e vejo que o prazer do dragão só se torna grande na luta.
Mas talvez o melhor seja ir até ao início, porque a aventura começa no momento em que se toma a decisão de vivê-la.
“Aceitarei tudo o que me apetecer”, afirmou o poeta, animado de um sorriso que era só seu.
Saíram da casa para o labirinto dos seus segredos. O rumor que se ouvia ao longe parecia-se com a voz de um rio.
Escutaram-no enquanto caminhavam, devagar, de mãos dadas como os namorados.
Saíram da casa para o labirinto dos seus segredos. O rumor que se ouvia ao longe parecia-se com a voz de um rio.
Escutaram-no enquanto caminhavam, devagar, de mãos dadas como os namorados.
“Dá-me o que me dás”, disse o poeta. “Só isso quero, só isso aceito”.
“E tudo o mais?”, perguntou a mulher.
“Tudo o mais é tempo, e eu falo da liberdade. Quero-a. Por isso não me prendas, que quem prende perde. Aceita de mim o que houver, tu também. Seremos um perante o outro sem intenção. Será bom”.
Estavam no mundo, a mulher e o poeta, estavam no meio dos outros, difícil lhes parecia aquele jogo. E, no entanto, sabiam do gozo de gozar, por mais dificuldades que por ele lhe viessem. Discursavam para esquecer.
Ergueram-se então do leito das conversas, lúcidos. Puseram-se dentro das roupas. Um deles abriu a janela, de uma vez só.
Enfrentaram a luz. Um dia novo estava a nascer da noite já morta, cheio de sol, serenidade na terra.
“E tudo o mais?”, perguntou a mulher.
“Tudo o mais é tempo, e eu falo da liberdade. Quero-a. Por isso não me prendas, que quem prende perde. Aceita de mim o que houver, tu também. Seremos um perante o outro sem intenção. Será bom”.
Estavam no mundo, a mulher e o poeta, estavam no meio dos outros, difícil lhes parecia aquele jogo. E, no entanto, sabiam do gozo de gozar, por mais dificuldades que por ele lhe viessem. Discursavam para esquecer.
Ergueram-se então do leito das conversas, lúcidos. Puseram-se dentro das roupas. Um deles abriu a janela, de uma vez só.
Enfrentaram a luz. Um dia novo estava a nascer da noite já morta, cheio de sol, serenidade na terra.
Falaram da morte, mas era da vida que estavam a dizer.
O poeta disse:
“A vida não tem sentido, porque a morte existe. Inventa-se então, por necessidade, esse sentido (apesar da morte), e vive-se por ele, e para ele. Assim, tudo se torna invenção, e essas são, simultaneamente, a tragédia e a comédia fundamentais da condição humana”.
E o poeta disse ainda:
“A morte é uma puta à espera dos seus clientes. Às vezes, quando não consigo acreditar o bastante nas minhas invenções, o que mais me apetece é ir visitá-la. Mas, como sei que é uma visita sem regresso, contenho-me, e rio-me. O riso é um poema, uma filosofia. Por causa dele, a puta não terá de mim esse prazer total que seria o meu voluntariado. Deixarei que o tempo me leve a ela, como é natural. Serei forte”.
E a mulher disse:
“Apetece-me atirar-me ao rio”.
“Para quê?”, perguntou-lhe o poeta. “Não sabes nadar”.
“Por isso mesmo”.
Mas reconsiderou. Disse:
“Apetece-me dar um tiro na cabeça. Será que dói?”
“Dói. Por um segundo”. O poeta acariciou a face da mulher. E acrescentou: “afinal, ainda bem que há dor”.
O poeta disse:
“A vida não tem sentido, porque a morte existe. Inventa-se então, por necessidade, esse sentido (apesar da morte), e vive-se por ele, e para ele. Assim, tudo se torna invenção, e essas são, simultaneamente, a tragédia e a comédia fundamentais da condição humana”.
E o poeta disse ainda:
“A morte é uma puta à espera dos seus clientes. Às vezes, quando não consigo acreditar o bastante nas minhas invenções, o que mais me apetece é ir visitá-la. Mas, como sei que é uma visita sem regresso, contenho-me, e rio-me. O riso é um poema, uma filosofia. Por causa dele, a puta não terá de mim esse prazer total que seria o meu voluntariado. Deixarei que o tempo me leve a ela, como é natural. Serei forte”.
E a mulher disse:
“Apetece-me atirar-me ao rio”.
“Para quê?”, perguntou-lhe o poeta. “Não sabes nadar”.
“Por isso mesmo”.
Mas reconsiderou. Disse:
“Apetece-me dar um tiro na cabeça. Será que dói?”
“Dói. Por um segundo”. O poeta acariciou a face da mulher. E acrescentou: “afinal, ainda bem que há dor”.
Fizeram amor ao terceiro dia, em plena loucura de continuarem ainda sem saberem nada. Mas eram seres assim, conhecedores, pelo menos, da claridade dos seus próprios corpos, e a situação nunca poderia ter sido outra.
Fizeram amor a olhar-se nos olhos. Por um instante suspenso na ficção do tempo, impossível se tornou determinar qual era o poeta e qual era a mulher.
Tornaram a olhar-se. Inesperadamente, ambos pensaram: “será amor?”, como nas canções.
Não era, mas tornaram a fazê-lo. Era preciso responder ao silêncio.
Fizeram amor a olhar-se nos olhos. Por um instante suspenso na ficção do tempo, impossível se tornou determinar qual era o poeta e qual era a mulher.
Tornaram a olhar-se. Inesperadamente, ambos pensaram: “será amor?”, como nas canções.
Não era, mas tornaram a fazê-lo. Era preciso responder ao silêncio.
“Eu espanto-me”.
“Eu amo”.
“Eu canto”.
“Eu tenho medo”.
Isto era o eu dele e o eu dela a procurarem-se na penumbra do cansaço do sono que não queriam que viesse, porque estavam esfomeados, surpreendidos, a soltar gritos de paranóia por trás da aparente brandura das palavras. Era preciso fazer alguma coisa — talvez tomar banho, comer, soltar os gritos da sua prisão, entender os possíveis e os impossíveis do que estavam a fazer um perante o outro.
Começaram. Mas aquilo já era mais uma continuação, uma dança natural, o-que-tinha-de-ser.
O poeta, por momentos, conseguiu esquecer-se de si. Limitou-se a apreciar.
“Eu amo”.
“Eu canto”.
“Eu tenho medo”.
Isto era o eu dele e o eu dela a procurarem-se na penumbra do cansaço do sono que não queriam que viesse, porque estavam esfomeados, surpreendidos, a soltar gritos de paranóia por trás da aparente brandura das palavras. Era preciso fazer alguma coisa — talvez tomar banho, comer, soltar os gritos da sua prisão, entender os possíveis e os impossíveis do que estavam a fazer um perante o outro.
Começaram. Mas aquilo já era mais uma continuação, uma dança natural, o-que-tinha-de-ser.
O poeta, por momentos, conseguiu esquecer-se de si. Limitou-se a apreciar.
“Estou disposto a ouvir-te”, disse o poeta à mulher. “Eu não durmo”.
“Tu não dormes”, disse a mulher. E sorria.
Falou.
“Eu bebo”, disse o poeta. “Bebes?”
“Bebo”.
Olharam-se, sem nada saberem. Brindaram. Beberam.
“Porque é que tu és o poeta?”, perguntou-lhe a mulher.
E ele respondeu:
“Porque sou aquele que vale só por si”.
“E isso é bom?”
“É o melhor”.
“Eu sofro”, disse a mulher.
“Sofre-se de mais”, disse o poeta. “Eu também. Não se foge a isso. Mas prefiro sofrer a não sentir”.
Estavam ambos muito sozinhos, naquele lugar.
“Tu não dormes”, disse a mulher. E sorria.
Falou.
“Eu bebo”, disse o poeta. “Bebes?”
“Bebo”.
Olharam-se, sem nada saberem. Brindaram. Beberam.
“Porque é que tu és o poeta?”, perguntou-lhe a mulher.
E ele respondeu:
“Porque sou aquele que vale só por si”.
“E isso é bom?”
“É o melhor”.
“Eu sofro”, disse a mulher.
“Sofre-se de mais”, disse o poeta. “Eu também. Não se foge a isso. Mas prefiro sofrer a não sentir”.
Estavam ambos muito sozinhos, naquele lugar.
Tinham vindo outros ainda, queriam dizer também das suas opiniões. Mas o poeta estava cansado daquele jogo com as regras, cansado de toda aquela tépida chatice de gente cheia de ideias amontoada na sua mesa.
Disse: “basta por hoje”.
Todos os que tinham vindo ficaram a olhá-lo, à espera.
O poeta sorriu. Acrescentou: “é bom, ter tantos amigos”.
Disse: “basta por hoje”.
Todos os que tinham vindo ficaram a olhá-lo, à espera.
O poeta sorriu. Acrescentou: “é bom, ter tantos amigos”.
... E foi-lhes respondendo:
A um:
“Claro que não há destino. Acredito em todos. Se construo ou destruo alguma coisa, a isso é que chamo destino. É uma mera questão de circunstância, oportunismo e marketing”.
A dois:
“Não respeito muito os que só entendem a estupidez quando a vêem nos outros. É menos estúpido começar pela nossa própria”.
A três:
“Bebo, destruo, revolto-me. Estou doente e não entendo. Depois não bebo, construo, não me revolto. Permaneço doente, e sem entender. Não sou muito romântico, creio”.
A quatro:
“Nunca sei com certeza se estou a trabalhar bem. Às vezes satisfeito, às vezes insatisfeito. Isto que agora acho belo, mais daqui a bocado perde para mim toda a importância. Além disso, o meu trabalho acaba sempre nos outros: eles que digam. A minha opinião é apenas a minha opinião”.
A cinco:
“Tudo é absurdo. Claro. Tudo é extraordinário, também. Tudo é alienação, tudo é sexo, tudo é ilusão, tudo é batatas, etc.. Por isso não vou crer. Não vou sair daqui, não me vou mexer, vou ficar muito quietinho e caladinho. E quando me perguntarem: “mas que se passa contigo?”, responderei somente, num sussurro: “não vale a pena, tudo é inútil”. Não é?”
A seis:
“A paixão é um acontecimento tremendo: instalados nela, parece não haver nada capaz de nos derrubar, e até o mau se faz bom — ou melhor, pelo menos. E aí vamos nós, imbatíveis, cegos, luminosos. Mas, de repente — é da sua natureza — , a paixão desvanece-se. E fica tudo tão sórdido... Ah, mas um homem a sério não desarma, faz-se incansável. Bom mesmo é sentir. É isso que é ser poeta, por exemplo. Esta acabou? Começa-se já outra. Cá vamos nós”.
A sete:
“A loucura é um tipo a babar-se, numa cadeira de rodas, amarrado, encharcado de calmantes fortes. Ou então a loucura é estar-se sempre a perguntar: “e se?... e se?...”, e tudo ser, tudo obedecer. Evidentemente, eu procuro. Mas encontrar, sabem, não é o que mais me interessa. Porque sei que não se encontra; todo o gozo reside na busca. A loucura? Pois sim. Uma dose dela, com certeza. Mais do que isso, não”.
A oito:
“Tu falas, eu escuto-te. Às vezes ligo-te, às vezes não. És uma besta? Eu também. Somos todos. Por isso é que nos entendemos, mas não nos entendemos”.
A nove:
“Tudo se diz, a confusão é grande, o silêncio é de oiro, a música tem pausas, fala-se por se falar, come-se, o vinho é bom. Se eu fosse poeta, só dizia de mistérios, mas assim não; fácil mesmo é ser prosaico”.
A dez:
“Viver é não compreender, e no entanto aceitar, e de súbito dar uma volta completa e não aceitar mais nada, dizer: “Está cheio”, pensar que o pior é que tudo se pode compreender ¾ que tudo se compreende, de facto”.
A onze:
“Pensar é pensar. Às vezes penso, depois ajo. Às vezes estou à espera e farto-me de esperar e por isso vou-me embora. Às vezes ajo sem pensar. Quando depois penso no que fiz, sinto-me confuso. Existir é um acaso”.
A um:
“Claro que não há destino. Acredito em todos. Se construo ou destruo alguma coisa, a isso é que chamo destino. É uma mera questão de circunstância, oportunismo e marketing”.
A dois:
“Não respeito muito os que só entendem a estupidez quando a vêem nos outros. É menos estúpido começar pela nossa própria”.
A três:
“Bebo, destruo, revolto-me. Estou doente e não entendo. Depois não bebo, construo, não me revolto. Permaneço doente, e sem entender. Não sou muito romântico, creio”.
A quatro:
“Nunca sei com certeza se estou a trabalhar bem. Às vezes satisfeito, às vezes insatisfeito. Isto que agora acho belo, mais daqui a bocado perde para mim toda a importância. Além disso, o meu trabalho acaba sempre nos outros: eles que digam. A minha opinião é apenas a minha opinião”.
A cinco:
“Tudo é absurdo. Claro. Tudo é extraordinário, também. Tudo é alienação, tudo é sexo, tudo é ilusão, tudo é batatas, etc.. Por isso não vou crer. Não vou sair daqui, não me vou mexer, vou ficar muito quietinho e caladinho. E quando me perguntarem: “mas que se passa contigo?”, responderei somente, num sussurro: “não vale a pena, tudo é inútil”. Não é?”
A seis:
“A paixão é um acontecimento tremendo: instalados nela, parece não haver nada capaz de nos derrubar, e até o mau se faz bom — ou melhor, pelo menos. E aí vamos nós, imbatíveis, cegos, luminosos. Mas, de repente — é da sua natureza — , a paixão desvanece-se. E fica tudo tão sórdido... Ah, mas um homem a sério não desarma, faz-se incansável. Bom mesmo é sentir. É isso que é ser poeta, por exemplo. Esta acabou? Começa-se já outra. Cá vamos nós”.
A sete:
“A loucura é um tipo a babar-se, numa cadeira de rodas, amarrado, encharcado de calmantes fortes. Ou então a loucura é estar-se sempre a perguntar: “e se?... e se?...”, e tudo ser, tudo obedecer. Evidentemente, eu procuro. Mas encontrar, sabem, não é o que mais me interessa. Porque sei que não se encontra; todo o gozo reside na busca. A loucura? Pois sim. Uma dose dela, com certeza. Mais do que isso, não”.
A oito:
“Tu falas, eu escuto-te. Às vezes ligo-te, às vezes não. És uma besta? Eu também. Somos todos. Por isso é que nos entendemos, mas não nos entendemos”.
A nove:
“Tudo se diz, a confusão é grande, o silêncio é de oiro, a música tem pausas, fala-se por se falar, come-se, o vinho é bom. Se eu fosse poeta, só dizia de mistérios, mas assim não; fácil mesmo é ser prosaico”.
A dez:
“Viver é não compreender, e no entanto aceitar, e de súbito dar uma volta completa e não aceitar mais nada, dizer: “Está cheio”, pensar que o pior é que tudo se pode compreender ¾ que tudo se compreende, de facto”.
A onze:
“Pensar é pensar. Às vezes penso, depois ajo. Às vezes estou à espera e farto-me de esperar e por isso vou-me embora. Às vezes ajo sem pensar. Quando depois penso no que fiz, sinto-me confuso. Existir é um acaso”.
Assim, a pouco e pouco, nesta roda de dizer e ouvir, uma grande assembleia se reune na pequena mesa onde o poeta, actor de hábitos, se encontra instalado, desde manhã cedo. Mas cabem todos, e sempre é algum calor humano que se consegue.
O poeta acende um cigarro (dos tais sempre da mesma marca), atira o fumo para o alto e olha à volta. Grande expectativa. Será que vai falar? Vai, sim. Diz: “Creio que os sou a todos; sou, aliás, o que sou e não sou; oiço as vossas ideias; penso; são boas ideias; chego a acreditar que também me pertencem; gostaria por isso de vos responder com uma sabedoria igual à vossa, mas não me acho capaz de tanto; mesmo assim, escutem-me: talvez possamos rir juntos”.
O poeta acende um cigarro (dos tais sempre da mesma marca), atira o fumo para o alto e olha à volta. Grande expectativa. Será que vai falar? Vai, sim. Diz: “Creio que os sou a todos; sou, aliás, o que sou e não sou; oiço as vossas ideias; penso; são boas ideias; chego a acreditar que também me pertencem; gostaria por isso de vos responder com uma sabedoria igual à vossa, mas não me acho capaz de tanto; mesmo assim, escutem-me: talvez possamos rir juntos”.
Agora o poeta está cansado. Outros vêm; ele pede-lhes que parem. “Só um pouco, por favor”. Mas é bom, ter tantos amigos.
Vem um e diz-lhe:
“Não há destino. Não acredites em nenhum”.
Vem dois e diz-lhe:
“Toda a gente é estúpida. Não ligues”.
Vem três e diz-lhe:
“Bebe, destrói. Só a revolta é sã”.
Vem quatro e diz-lhe:
“No bom trabalho se faz o homem. Trabalha bem”.
Vem cinco e diz-lhe:
“Tudo é absurdo. Não creias”.
Vem seis e diz-lhe:
“Só as emoções contam. Vive apaixonado”.
Vem sete e diz-lhe:
“Na loucura encontra-se. Procura louco”.
Vem oito e diz-lhe:
“Eu falo, mas não me oiças. Sou uma besta”.
Vem nove e diz-lhe:
“Tudo é indizível. Silencia”.
Vem dez e diz-lhe:
“Viver é compreender. Aceita”.
Vem onze e diz-lhe:
“Pensar é esperar. Age”.
“Não há destino. Não acredites em nenhum”.
Vem dois e diz-lhe:
“Toda a gente é estúpida. Não ligues”.
Vem três e diz-lhe:
“Bebe, destrói. Só a revolta é sã”.
Vem quatro e diz-lhe:
“No bom trabalho se faz o homem. Trabalha bem”.
Vem cinco e diz-lhe:
“Tudo é absurdo. Não creias”.
Vem seis e diz-lhe:
“Só as emoções contam. Vive apaixonado”.
Vem sete e diz-lhe:
“Na loucura encontra-se. Procura louco”.
Vem oito e diz-lhe:
“Eu falo, mas não me oiças. Sou uma besta”.
Vem nove e diz-lhe:
“Tudo é indizível. Silencia”.
Vem dez e diz-lhe:
“Viver é compreender. Aceita”.
Vem onze e diz-lhe:
“Pensar é esperar. Age”.
Sentou-se o poeta à mesa do costume, no café do costume.
(Fuma sempre cigarros daquela marca, usa sempre aquela caneta. Tem hábitos, portanto. É observável e observador. Tudo coisas sem importância.)
(Fuma sempre cigarros daquela marca, usa sempre aquela caneta. Tem hábitos, portanto. É observável e observador. Tudo coisas sem importância.)
“Não vale a pena. Guardarei a nudez para depois, na vida cheia”. Ora, palavras. Indecisões. Tentações. Mais literatura.
Seja. Afinal, despojar-me era para quê? Digo: “Para não ter bagagem, para lançar uma verdade própria na criação”.
Bom, e a memória? A pedra cai na água. Círculos concêntricos. O patinho de borracha a andar às voltas, às voltas...
E mudar as rotinas?
E rejeitar o conhecimento das experiências alheias?
Vejam: esta criança é um lobo, mas anda de pé.
Vejam: que idiota.
Vejam: pensa que se farta.
Vejam: olhó poeta, olhó poeta.
Seja. Afinal, despojar-me era para quê? Digo: “Para não ter bagagem, para lançar uma verdade própria na criação”.
Bom, e a memória? A pedra cai na água. Círculos concêntricos. O patinho de borracha a andar às voltas, às voltas...
E mudar as rotinas?
E rejeitar o conhecimento das experiências alheias?
Vejam: esta criança é um lobo, mas anda de pé.
Vejam: que idiota.
Vejam: pensa que se farta.
Vejam: olhó poeta, olhó poeta.
Difícil, agora, difícil mesmo, é esta minha arte pretendida de somente ser, e de me despojar.
Bebe-se disto e daquilo, aprende-se a apreciar, é natural que se queira continuar a beber. Há, no entanto, o risco de abuso. Diz-se então, com muita força das palavras: “Não, não vou beber mais”. E parece-nos ser essa a melhor decisão. Mas, inesperadamente, a memória traz-nos à boca aquele sabor mágico... Não, é preciso resistir. Embora tal resistência provoque sofrimento.
Ora é louco aquele que sofre por vontade. Pois não há já tanta dor involuntária?
“Não, não vou beber”.
E resiste-se ainda mais um pouco. Sempre mais um pouco. Até onde, até quando será possível aguentar? Porque, faça-se o que se fizer, a memória não se desvanece de todo.
Pensa-se a morte. Mas é apenas uma breve ideia. Literatura.
Bebe-se disto e daquilo, aprende-se a apreciar, é natural que se queira continuar a beber. Há, no entanto, o risco de abuso. Diz-se então, com muita força das palavras: “Não, não vou beber mais”. E parece-nos ser essa a melhor decisão. Mas, inesperadamente, a memória traz-nos à boca aquele sabor mágico... Não, é preciso resistir. Embora tal resistência provoque sofrimento.
Ora é louco aquele que sofre por vontade. Pois não há já tanta dor involuntária?
“Não, não vou beber”.
E resiste-se ainda mais um pouco. Sempre mais um pouco. Até onde, até quando será possível aguentar? Porque, faça-se o que se fizer, a memória não se desvanece de todo.
Pensa-se a morte. Mas é apenas uma breve ideia. Literatura.
O que há de mais extraordinário na arte é o facto de ela ser tão absolutamente dispensável. Contudo, penso: “talvez tenha havido um tempo em que não era assim; talvez venha a haver...”
Talvez seja agora, e eu é que não me consiga aperceber, de estar tão dentro dela.
Talvez seja agora, e eu é que não me consiga aperceber, de estar tão dentro dela.
Da rádio, oiço: “está um morto no hospital e ninguém o conhece”. É um apelo. Quer dizer, é preciso que alguém o conheça. Ninguém está só.
O presidente declara aos jornais: “no nosso país, a fome não existe”. Virtudes da democracia.
O presidente declara aos jornais: “no nosso país, a fome não existe”. Virtudes da democracia.
Escuto toda a gente. Toda a gente sabe mais do que eu. Não sabia que havia tanto conhecimento. É realmente admirável.
Apologia da alienação sensorial, enquanto caminho:
“Para caminhar coloco uma perna à frente da outra e depois avanço essa que ficou para trás e assim sucessivamente; é o meu cérebro que dá ordens aos músculos, aos ossos, às cartilagens, ao sangue e ao oxigénio; sinto o chão sob os pés, através dos sapatos, as pedras, a areia, o alcatrão, a relva, a relva está molhada, sinto o couro dos sapatos aconchegarem-me os dedos, as meias, o elástico das meias a apertarem as pernas, a repuxarem os pêlos (mas com suavidade); sinto as cuecas, o elástico das cuecas a acentuar-me a cintura conjuntamente com o cinto das calças, o sexo acomodado, sinto o colarinho da camisa e os punhos e o leve movimento dos braços, sinto a brisa fria no rosto, no cabelo, nas mãos, a secar-me os lábios, digo à língua que mos humedeça e sinto-a, sinto o ardor nas faces da barba feita há pouco, sinto as chaves e o isqueiro no bolso das calças, sinto o nariz entupido (estou constipado), sinto o fumo do cigarro que estou a fumar a entrar-me nos pulmões, a sair-me pela boca, sinto o frio do Inverno que é, que me provoca desconforto, e o sol sem força a não contrabalançar; sinto, enfim, a harmonia do meu corpo em movimento e, mais que a pele desumana do meu blusão, a imensa toalha da minha própria pele, macia, sequiosa...”
Esta alucinação é muito lúcida. Este haxixe é muito bom. Não o quero. Quero sentir muito, mas sem ele.
“Para caminhar coloco uma perna à frente da outra e depois avanço essa que ficou para trás e assim sucessivamente; é o meu cérebro que dá ordens aos músculos, aos ossos, às cartilagens, ao sangue e ao oxigénio; sinto o chão sob os pés, através dos sapatos, as pedras, a areia, o alcatrão, a relva, a relva está molhada, sinto o couro dos sapatos aconchegarem-me os dedos, as meias, o elástico das meias a apertarem as pernas, a repuxarem os pêlos (mas com suavidade); sinto as cuecas, o elástico das cuecas a acentuar-me a cintura conjuntamente com o cinto das calças, o sexo acomodado, sinto o colarinho da camisa e os punhos e o leve movimento dos braços, sinto a brisa fria no rosto, no cabelo, nas mãos, a secar-me os lábios, digo à língua que mos humedeça e sinto-a, sinto o ardor nas faces da barba feita há pouco, sinto as chaves e o isqueiro no bolso das calças, sinto o nariz entupido (estou constipado), sinto o fumo do cigarro que estou a fumar a entrar-me nos pulmões, a sair-me pela boca, sinto o frio do Inverno que é, que me provoca desconforto, e o sol sem força a não contrabalançar; sinto, enfim, a harmonia do meu corpo em movimento e, mais que a pele desumana do meu blusão, a imensa toalha da minha própria pele, macia, sequiosa...”
Esta alucinação é muito lúcida. Este haxixe é muito bom. Não o quero. Quero sentir muito, mas sem ele.
Na contradição reside um dos meus mais profundos e inquietantes prazeres. Quando afirmo e depois nego o que afirmo, aí sim, sinto-me muito próximo do que mais sinceramente sinto.
Sempre acreditei na existência de deus.
Sempre acreditei que Deus era “omniexistência”.
Nunca acreditei em religiões. Acho a ideia de Deus nas religiões muito “fornicante”.
Além disso, acho insuportável que continue a haver fome entre os homens. E parece uma questão tão simples, tão fácil de resolver, não parece?
Sempre acreditei que Deus era “omniexistência”.
Nunca acreditei em religiões. Acho a ideia de Deus nas religiões muito “fornicante”.
Além disso, acho insuportável que continue a haver fome entre os homens. E parece uma questão tão simples, tão fácil de resolver, não parece?
Não é por mim que meço o tempo, mas pelos outros.
Quando penso em tudo o que já fiz e faço por causa dos outros é que começo a compreender, realmente, o muito que já errei, e como, e porquê.
Quando penso em tudo o que já fiz e faço por causa dos outros é que começo a compreender, realmente, o muito que já errei, e como, e porquê.
Para tudo há imagens perfeitas. Os sensatos dizem que a perfeição não existe. Os perturbados afirmam que só a perfeição existe. Os filósofos talvez digam que a perfeição é um ideal, a imagem de um desejo ou de um sonho. A perfeição é Deus, para os que nele crêem.
Um escritor inglês de livros policiais escreveu uma novela do género que intitulou “O crime perfeito”. Uma amiga minha, que lê pouco, disse: “É um bom título, soa bem”.
Um escritor inglês de livros policiais escreveu uma novela do género que intitulou “O crime perfeito”. Uma amiga minha, que lê pouco, disse: “É um bom título, soa bem”.
Para quê o amor?
Porquê o amor?
Não se pode exterminá-lo?
Ou então tudo ser amor, e existência.
“Devem ser outras, as pessoas”, observa o realizador, da obscuridade.
Ouve-se também algum riso. Devo ser eu.
Porquê o amor?
Não se pode exterminá-lo?
Ou então tudo ser amor, e existência.
“Devem ser outras, as pessoas”, observa o realizador, da obscuridade.
Ouve-se também algum riso. Devo ser eu.
Serei fácil para os difíceis e apaixonado para os famintos.
Caluniarei a beleza e serei seu amante.
Farei experiências com os meus apetites.
Caluniarei a beleza e serei seu amante.
Farei experiências com os meus apetites.
“Sê cínico”.
Eu sou. Para sobreviver.
“Sê livre”.
Eu sou. Sê tu também.
“Sê indiferente”.
Eu sou. O universo é grande.
“Sê louco”.
Eu sou. Escuto o que penso.
“Sê verdadeiro”.
Eu sou. É-se sempre.
Eu sou. Para sobreviver.
“Sê livre”.
Eu sou. Sê tu também.
“Sê indiferente”.
Eu sou. O universo é grande.
“Sê louco”.
Eu sou. Escuto o que penso.
“Sê verdadeiro”.
Eu sou. É-se sempre.
Mulheres bonitas levantam-se cedo e com pressa das suas camas, dos seus amores. Que fácil é desejá-las, à distância, e lamentá-las, desperdiçadas na vida moderna.
Faço apelo à imaginação? Responde-me a memória. Porque a própria memória é imaginação.
Não faço mais apelos. E tudo fala. Sozinho me deito e sozinho me ergo. Tudo me aproxima de ser eu, de entender eu; talvez de me dar.
Não faço mais apelos. E tudo fala. Sozinho me deito e sozinho me ergo. Tudo me aproxima de ser eu, de entender eu; talvez de me dar.
Saúdo este tempo onde todas as realidades e ficções cabem.
Saúdo este tempo que me permite ser colectivo mas individual, uno mas divisível.
Saúdo todas as influências, porque delas me vou libertando.
Saúdo este tempo que me permite ser colectivo mas individual, uno mas divisível.
Saúdo todas as influências, porque delas me vou libertando.
O poeta era um covarde na terra sem heróis, lá para sul.
Um dia, o feiticeiro da tribo, que não gostava dele, envolveu-o numa teia mágica e disse-lhe que era chegado o tempo de ele entrar no mundo dos homens.
“Mas o tempo existe?”, riu-se o poeta, cheio de medo.
Todavia, até mesmo o chefe da tribo concordou com o feiticeiro.
Foram então para a falésia da Grande Canoa. Havia uma falha enorme na terra — um precipício — , e por cima dessa falha estenderam uma corda. De um lado ao outro, com esforço e sem ajuda alguma, teria o poeta de atravessar, para se fazer homem, segundo as tradições.
Despiu-se ele até ficar completamente nu. Depois cuspiu nas mãos e disse: “Vamos lá a isso”.
Agarrou-se à corda, começou a avançar por ela. Olhou para baixo, sentiu uma vertigem fabulosa; sabia que o mais fácil seria deixar-se cair para aquelas profundezas incríveis, aquele verde das plantas que a custo se fixavam entre os rochedos agrestes do abismo.
Não se deixou pensar muito em tais desvarios. Não acreditava nos homens: sabia que eles não acreditavam em si próprios. Mas queria aborrecer o feiticeiro, mostrar-lhe que o poder tinha muitas máscaras, a sabedoria muitos sabores. Avançou a pulso. Devagar. Cada vez mais perto. Suor frio. Mais perto. Calor.
Em luta consigo, não se apercebeu da traição do feiticeiro, que, com uma faca até aí oculta nas suas roupas rituais, cortou a corda.
De repente, sentiu-se a cair. E porque estava mesmo a cair, caiu, e morreu.
“Porque fizeste isso?”, perguntou o rei ao feiticeiro.
“Vi-o hesitar”, desculpou-se este, gaguejante.
“Agora não temos poeta”, lamentou-se o rei, que gostava de se rir — e, francamente, o feiticeiro não lhe estimulava muito o humor.
Mas tinham. O poeta, afinal, não morrera: o seu corpo, após a queda, transformara-se em carro, e estava agora numa oficina, a fazer revisão.
O seu espírito, esse, magoado com outros sofrimentos, clamava por vingança. Assombrou o sono do rei e do feiticeiro, os sonhos de todos os que sonhavam, a água do poço, o luar.
Quando o carro ficou bom, lá na oficina longínqua, fez a viagem de regresso. Ninguém o reconheceu, mas temeram-no, porque ele trazia consigo um papel que o declarava dono legítimo e único da terra onde a tribo erguera aldeia.
“Que vais fazer, senhor?”, perguntou-lhe o rei, com timbre de adulador.
O poeta respondeu-lhe: “Vou tirar-te todas as mulheres, cortar a língua e as mãos ao feiticeiro, expulsá-los a todos daqui; vou-vos falar de uma terra prometida; partirão para procurá-la; já tinhas ouvido história mais bela?”
Tudo aconteceu como o poeta disse. Mas ele não estava contente, porque não era a vingança que o satisfazia: só em generosidade era capaz de viver, e o sofrimento dos outros sofria-o ele também.
Dormiu muitas noites na praia, sozinho, rodeado de melancolia e música triste, a olhar as estrelas em todo o céu, a ouvir o mar.
Mais tarde ou mais cedo, acabaria por ir ao encontro de seu povo, para iluminar o castigo que lhe impusera: de facto, só ele sabia bem onde é que ficava a terra nova que lhes prometera.
Um dia, o feiticeiro da tribo, que não gostava dele, envolveu-o numa teia mágica e disse-lhe que era chegado o tempo de ele entrar no mundo dos homens.
“Mas o tempo existe?”, riu-se o poeta, cheio de medo.
Todavia, até mesmo o chefe da tribo concordou com o feiticeiro.
Foram então para a falésia da Grande Canoa. Havia uma falha enorme na terra — um precipício — , e por cima dessa falha estenderam uma corda. De um lado ao outro, com esforço e sem ajuda alguma, teria o poeta de atravessar, para se fazer homem, segundo as tradições.
Despiu-se ele até ficar completamente nu. Depois cuspiu nas mãos e disse: “Vamos lá a isso”.
Agarrou-se à corda, começou a avançar por ela. Olhou para baixo, sentiu uma vertigem fabulosa; sabia que o mais fácil seria deixar-se cair para aquelas profundezas incríveis, aquele verde das plantas que a custo se fixavam entre os rochedos agrestes do abismo.
Não se deixou pensar muito em tais desvarios. Não acreditava nos homens: sabia que eles não acreditavam em si próprios. Mas queria aborrecer o feiticeiro, mostrar-lhe que o poder tinha muitas máscaras, a sabedoria muitos sabores. Avançou a pulso. Devagar. Cada vez mais perto. Suor frio. Mais perto. Calor.
Em luta consigo, não se apercebeu da traição do feiticeiro, que, com uma faca até aí oculta nas suas roupas rituais, cortou a corda.
De repente, sentiu-se a cair. E porque estava mesmo a cair, caiu, e morreu.
“Porque fizeste isso?”, perguntou o rei ao feiticeiro.
“Vi-o hesitar”, desculpou-se este, gaguejante.
“Agora não temos poeta”, lamentou-se o rei, que gostava de se rir — e, francamente, o feiticeiro não lhe estimulava muito o humor.
Mas tinham. O poeta, afinal, não morrera: o seu corpo, após a queda, transformara-se em carro, e estava agora numa oficina, a fazer revisão.
O seu espírito, esse, magoado com outros sofrimentos, clamava por vingança. Assombrou o sono do rei e do feiticeiro, os sonhos de todos os que sonhavam, a água do poço, o luar.
Quando o carro ficou bom, lá na oficina longínqua, fez a viagem de regresso. Ninguém o reconheceu, mas temeram-no, porque ele trazia consigo um papel que o declarava dono legítimo e único da terra onde a tribo erguera aldeia.
“Que vais fazer, senhor?”, perguntou-lhe o rei, com timbre de adulador.
O poeta respondeu-lhe: “Vou tirar-te todas as mulheres, cortar a língua e as mãos ao feiticeiro, expulsá-los a todos daqui; vou-vos falar de uma terra prometida; partirão para procurá-la; já tinhas ouvido história mais bela?”
Tudo aconteceu como o poeta disse. Mas ele não estava contente, porque não era a vingança que o satisfazia: só em generosidade era capaz de viver, e o sofrimento dos outros sofria-o ele também.
Dormiu muitas noites na praia, sozinho, rodeado de melancolia e música triste, a olhar as estrelas em todo o céu, a ouvir o mar.
Mais tarde ou mais cedo, acabaria por ir ao encontro de seu povo, para iluminar o castigo que lhe impusera: de facto, só ele sabia bem onde é que ficava a terra nova que lhes prometera.
O poeta era uma rocha no flanco de uma montanha. Foram lá buscá-lo, trouxeram-no para junto dos homens, esculpiram-no para lhe darem utilidade. Ficou pequeno, fragmentado em dez mil pedaços, que despejaram e amontoaram no chão, ainda mais no meio dos homens.
Veio um calceteiro e do poeta fez passeios. Passeios onde as pessoas passeavam ao fim-de-semana, sem saberem que estavam a pisar um poeta, a cuspir-lhe, a enchê-lo de lixo, tédio, merda de cães de estimação.
Um dia, um miúdo arrancou um olho do poeta do chão, e atirou-o pelo ar. Ouviu-se riso. Era a pedra. Era o poeta. Era o chão todo a rir, e as pessoas a olharem para os pés e umas para as outras, numa grande estranheza.
Entretanto, por baixo, no silêncio da terra, um cano da água estava prestes a rebentar. Iam ter de levantar o passeio, as pessoas iam ficar aborrecidas por lhes estarem a estragar os seus fins-de-semana — e depois, ainda por cima, havia aquele maldito chão, que agora não parava de rir...
Veio um calceteiro e do poeta fez passeios. Passeios onde as pessoas passeavam ao fim-de-semana, sem saberem que estavam a pisar um poeta, a cuspir-lhe, a enchê-lo de lixo, tédio, merda de cães de estimação.
Um dia, um miúdo arrancou um olho do poeta do chão, e atirou-o pelo ar. Ouviu-se riso. Era a pedra. Era o poeta. Era o chão todo a rir, e as pessoas a olharem para os pés e umas para as outras, numa grande estranheza.
Entretanto, por baixo, no silêncio da terra, um cano da água estava prestes a rebentar. Iam ter de levantar o passeio, as pessoas iam ficar aborrecidas por lhes estarem a estragar os seus fins-de-semana — e depois, ainda por cima, havia aquele maldito chão, que agora não parava de rir...
Distraidamente, recostou-se num sofá, a olhar para uma televisão ligada. Notícias do mundo. Sono. Corridas. Moda. Sono. Ópera. Tourada. Filmes. Sono. Documentários. Sono. Sono.
Lentamente, a civilização estava a adormecê-lo. Só teve tempo de desligar o aparelho e deslizar para a cama.
Dormiu dezasseis horas seguidas.
Quando tornou a acordar, tinha a barba por fazer. Mudou de página.
Lentamente, a civilização estava a adormecê-lo. Só teve tempo de desligar o aparelho e deslizar para a cama.
Dormiu dezasseis horas seguidas.
Quando tornou a acordar, tinha a barba por fazer. Mudou de página.
O poeta era um depósito de substâncias que alteravam a consciência.
“Que venham as substância”, proclamava ele, alto e bom som, num antecipado gozo das alquimias íntimas que se avizinhavam. Mas estava a ficar já tão habituado a tudo aquilo que o gozo acabara por se tornar fraco: o seu espírito movia-se agora numa névoa pesada, fosca como certo vidro, com uma memória posterior cheia de lacunas, gordura, banalidades.
Pediu então os vinhos e os licores, que o punham vermelho mas lhe davam alegria. Tratava-se, no entanto, de uma alegria parva e sem discernimento: de repente, maravilha, ele falava e ouviam-no, todos se deixavam seduzir, em comunhão celebravam qualquer coisa indizível, admirável... Mas depois, nas ruas cheias de noite, o poeta tropeçava, caía, o corpo num cansaço de homem fraco, todo aquele brilho a desfazer-se em vómitos.
Assim, desses usos e abusos desiludido, teimou o poeta em outra fantasia: não dormir. E não dormiu um dia, não dormiu dois. Sentado, em pé, a conversar, tinha a impressão de, de vez em quando, estar como que a acordar subitamente. Mas acordado estava ele. O que é que estaria então a dormir?
Não o visitaram os sonhos três dias seguidos.
De tanto abrir os olhos já eles não se fechavam, a não ser quando queriam: desprevenidamente. E sentia o sangue a latejar nas maxilas, no pescoço, ecos de alucinação nos ouvidos. Não pensava sequer no que era o sono. Fumava cigarros, bebia café, tomava autocarros que só tinham a função de o trazerem de volta. Patético. Patético. Ninguém lhe agradecia aquela destruição: diziam-lhe que o queriam apenas como ele era. (Ele respondia: “eu não sou”).
“Que venham as substância”, proclamava ele, alto e bom som, num antecipado gozo das alquimias íntimas que se avizinhavam. Mas estava a ficar já tão habituado a tudo aquilo que o gozo acabara por se tornar fraco: o seu espírito movia-se agora numa névoa pesada, fosca como certo vidro, com uma memória posterior cheia de lacunas, gordura, banalidades.
Pediu então os vinhos e os licores, que o punham vermelho mas lhe davam alegria. Tratava-se, no entanto, de uma alegria parva e sem discernimento: de repente, maravilha, ele falava e ouviam-no, todos se deixavam seduzir, em comunhão celebravam qualquer coisa indizível, admirável... Mas depois, nas ruas cheias de noite, o poeta tropeçava, caía, o corpo num cansaço de homem fraco, todo aquele brilho a desfazer-se em vómitos.
Assim, desses usos e abusos desiludido, teimou o poeta em outra fantasia: não dormir. E não dormiu um dia, não dormiu dois. Sentado, em pé, a conversar, tinha a impressão de, de vez em quando, estar como que a acordar subitamente. Mas acordado estava ele. O que é que estaria então a dormir?
Não o visitaram os sonhos três dias seguidos.
De tanto abrir os olhos já eles não se fechavam, a não ser quando queriam: desprevenidamente. E sentia o sangue a latejar nas maxilas, no pescoço, ecos de alucinação nos ouvidos. Não pensava sequer no que era o sono. Fumava cigarros, bebia café, tomava autocarros que só tinham a função de o trazerem de volta. Patético. Patético. Ninguém lhe agradecia aquela destruição: diziam-lhe que o queriam apenas como ele era. (Ele respondia: “eu não sou”).
O poeta era um carro. Constipou-se, entupiu os pulmões, sujou a pintura, reparou que o óleo estava a ficar com uma cor esquisita. Meteu marcha-atrás e conduziu-se a uma oficina, para fazer revisão.
“Bom”, disse-lhe o mecânico, depois de uma análise pormenorizada, “há coisas que não se pode fazer nada por elas. O melhor é seguir para diante”.
“Então traga a conta”, pediu o poeta, a coçar a buzina.
“Bom”, disse-lhe o mecânico, depois de uma análise pormenorizada, “há coisas que não se pode fazer nada por elas. O melhor é seguir para diante”.
“Então traga a conta”, pediu o poeta, a coçar a buzina.
“Então, gostaste do nosso espectáculo?”
“Foi bom. Estou contente por vocês”.
Também eu tenho os meus espectáculos para fazer; espero que depois não se esqueçam de os ir ver. Hei-de colocar-me nesse mesmo palco, cantar a esse microfone, pôr a minha guitarra a brilhar sob essas mesmas luzes quentes e alucinantes. E, sinceramente, espero que soe diferente — parecido comigo.
“Foi bom. Estou contente por vocês”.
Também eu tenho os meus espectáculos para fazer; espero que depois não se esqueçam de os ir ver. Hei-de colocar-me nesse mesmo palco, cantar a esse microfone, pôr a minha guitarra a brilhar sob essas mesmas luzes quentes e alucinantes. E, sinceramente, espero que soe diferente — parecido comigo.
Estávamos no jardim, a fazer tempo.
Ao fundo, numa paragem de autocarro, um tipo com blusão de cabedal dá safanões numa garota loira. Ela defende-se, chora. Ele insiste. Imaginamo-nos a dialogar e, por trás de nós, uma câmara a filmar as nossas nucas mais a nossa conversa e aquela cena do tipo e da garota loira, que estão relativamente distantes; de tal modo que os espectadores mal reparam, nós é que lhes vamos chamando a atenção.
Digo: “a última vez que fiz algo parecido estava apaixonado”.
“Também sei”, diz o outro. “É um tipo a dominar a situação. Dá para sentir o homem”.
“Ah sim?”
A loira afasta-se para a paragem dos táxis. O tipo vai-lhe no encalço, mas vagaroso, as mãos nos bolsos.
“Ela tapa a mão com a boca, não, a boca na mão, continua na defensiva. E ele agora chega e ela diz-lhe vai-te daqui és um cabrão, e ele nas calmas, mas a pensar que ela é boa e bonita e que há por aí muito tipo que não se importava nada de se lhe pôr em cima. É uma sensação lixada. Uma sensação filha da puta”.
Fala-se muito, cala-se mais.
As mulheres querem tudo, os homens querem tudo.
“Está na hora”, disse eu.
Ao fundo, numa paragem de autocarro, um tipo com blusão de cabedal dá safanões numa garota loira. Ela defende-se, chora. Ele insiste. Imaginamo-nos a dialogar e, por trás de nós, uma câmara a filmar as nossas nucas mais a nossa conversa e aquela cena do tipo e da garota loira, que estão relativamente distantes; de tal modo que os espectadores mal reparam, nós é que lhes vamos chamando a atenção.
Digo: “a última vez que fiz algo parecido estava apaixonado”.
“Também sei”, diz o outro. “É um tipo a dominar a situação. Dá para sentir o homem”.
“Ah sim?”
A loira afasta-se para a paragem dos táxis. O tipo vai-lhe no encalço, mas vagaroso, as mãos nos bolsos.
“Ela tapa a mão com a boca, não, a boca na mão, continua na defensiva. E ele agora chega e ela diz-lhe vai-te daqui és um cabrão, e ele nas calmas, mas a pensar que ela é boa e bonita e que há por aí muito tipo que não se importava nada de se lhe pôr em cima. É uma sensação lixada. Uma sensação filha da puta”.
Fala-se muito, cala-se mais.
As mulheres querem tudo, os homens querem tudo.
“Está na hora”, disse eu.
Estou na sala vazia de mim, a escrever, a esperar, a lutar com tudo isto, e penso: que porra de escrita.
“Pode-se avaliar se uma mulher tem ou não boas pernas só pelo cabelo”, disseram-me.
Estávamos a falar de carros, de mulheres a conduzir.
“Por isso é que elas vão tanto às cabeleireiras”, disse eu.
Estávamos a falar de carros, de mulheres a conduzir.
“Por isso é que elas vão tanto às cabeleireiras”, disse eu.
Estou com as calças para baixo, sentado na sanita, e a pensar: gosto do espadachim escondido no corcunda, do monstro dentro do médico, da alquimia da lua cheia; gosto do lixo que sai facilmente por ser só na pele.
Faço força, cago, cheira mal, limpo o cu, ergo-me, puxo as calças para cima, vejo-me ao espelho. É isso: tenho a pele suja, os poros entupidos por sórdidas secreções, minhas e urbanas.
Acho que vou tomar banho — prosseguir o alívio.
Faço força, cago, cheira mal, limpo o cu, ergo-me, puxo as calças para cima, vejo-me ao espelho. É isso: tenho a pele suja, os poros entupidos por sórdidas secreções, minhas e urbanas.
Acho que vou tomar banho — prosseguir o alívio.
Penso:
Um tipo vai daqui para ali, senta-se, pede um copo com uma bebida qualquer, paciente observa em redor. De repente dá por si a sentir-se mal: não é ali que quer estar, não é aquilo que quer sentir. Mas então o que é? O que é?
Um tipo vai daqui para ali, senta-se, pede um copo com uma bebida qualquer, paciente observa em redor. De repente dá por si a sentir-se mal: não é ali que quer estar, não é aquilo que quer sentir. Mas então o que é? O que é?
A iluminação pública ainda acesa. E eu à espera da abertura do café, felizmente confortável neste primeiro andar quase a acabar.
A acabar em mim tudo o que nunca devia sequer ter começado, para não sofrer esta sensação de esforço para um recomeço.
A acabar em mim tudo o que nunca devia sequer ter começado, para não sofrer esta sensação de esforço para um recomeço.
Quem é que vai ver um espectáculo de rock?
Porque é que todas as linguagens são tão ricas, tão imperfeitas?
Não, mais pessoas não. Não quero opiniões, serões de caseiro diálogo, o cafézinho, os cigarrinhos, o haxixezinho. Rio-me de tudo isso.
Por momentos, ainda me pergunto: o poeta a falar de o poeta? Sai encenação, na certa.
Mas depois já nem com isso me ralo. Estou a ficar moderno, alinho naquela do “faça você mesmo”. De qualquer modo, não era escrever que eu queria, nem a música ou o cinema, mas o que está por trás, que é maior, que eu não sei dizer, que os meus olhos tão descaradamente ocultam.
Porque é que todas as linguagens são tão ricas, tão imperfeitas?
Não, mais pessoas não. Não quero opiniões, serões de caseiro diálogo, o cafézinho, os cigarrinhos, o haxixezinho. Rio-me de tudo isso.
Por momentos, ainda me pergunto: o poeta a falar de o poeta? Sai encenação, na certa.
Mas depois já nem com isso me ralo. Estou a ficar moderno, alinho naquela do “faça você mesmo”. De qualquer modo, não era escrever que eu queria, nem a música ou o cinema, mas o que está por trás, que é maior, que eu não sei dizer, que os meus olhos tão descaradamente ocultam.
De cada vez que olho para a janela aberta vejo o céu mais claro: o dia a mostrar-se, a pouco e pouco.
Ainda há três horas me diziam: “Daqui a bocado vai chover”.
“Que se foda”, digo eu. “Vou estar a dormir”.
A chuva ainda não veio. O sono não veio. Está frio.
Ainda há três horas me diziam: “Daqui a bocado vai chover”.
“Que se foda”, digo eu. “Vou estar a dormir”.
A chuva ainda não veio. O sono não veio. Está frio.
Sem sono, por enquanto. Releio o escrito. Mas estou sem opinião. Apenas repito uma frase: “a verdade é que me sinto cada vez mais distante e cansado de todas as pessoas”. Verdade verdadeira.
As pessoas são como os livros, e eu não tenho nada, não quero ter, não quero continuar mais com esta sensação de estar sempre com a boca cheia de palavras.
Essencialmente, não me apetece ser simpático.
As pessoas são como os livros, e eu não tenho nada, não quero ter, não quero continuar mais com esta sensação de estar sempre com a boca cheia de palavras.
Essencialmente, não me apetece ser simpático.
Dormi, acordei tarde e à pressa tomei duche, fiz a barba e fui para a rua, noite outra vez. Estive a ver o espectáculo de um grupo rock de músicos que conheço. O público também estava cheio de caras habituais, algumas que eu até já não via há um certo tempo. Conversámos banalidades em atraso. Negociei. Os rapazes tocaram bem. Depois fui para outras voltas, que foram as do costume, mais passo menos passo, e agora aqui estou de novo, mais vinte e quatro horas em cima, alguma gente lá fora a acordar para um domingo que se espera ameno e feliz.
Agora é meio-dia. Sol inesperado por toda a rua, ainda bem que não é mentira. Estou cansado (menino): quero dormir. Muito. Estou a acabar o último cigarro. O sol não importa. As histórias ficam para depois. Pode ser?
(Anote-se só: o pior de tudo é o rádio aqui do café, a tocar alto um xarope tal que me agonia.)
(Anote-se só: o pior de tudo é o rádio aqui do café, a tocar alto um xarope tal que me agonia.)
São três da manhã, vou a andar pela rua fora já pouco a direito e a meu lado um personagem — “A” fica-lhe a matar — , o “A”, portanto, aí vamos nós na conversa de entreter, à procura de um lugar quente para beber mais um copo e ouvir mais um bocado de música-p’ra-dançar.
Digo eu ao “A”:
— Sou um anjo.
— Hã?
— Sou um anjo — repito.
— Eu sou deus — diz ele no gozo.
— Não acredito em deuses.
— Não acreditar já é pensar.
— Deuses são símbolos.
— E anjos são o quê?
— Tudo é símbolo.
É lixado ir a falar assim tão bem às três da manhã, com a boca seca. Fica-se com a impressão (esquisita) de que nada basta. E depois torna-se ainda mais lixado, porque, no fundo, a ninguém apetece pensar. Nem mesmo a mim. Mas já o disse: falo de mais. Às vezes penso. Sou assim.
Ora, sei lá como é que sou... Alguém sabe? O que vale é que os outros estão sempre a dizer-nos e nós a eles e por aí adiante.
Digo eu ao “A”:
— Sou um anjo.
— Hã?
— Sou um anjo — repito.
— Eu sou deus — diz ele no gozo.
— Não acredito em deuses.
— Não acreditar já é pensar.
— Deuses são símbolos.
— E anjos são o quê?
— Tudo é símbolo.
É lixado ir a falar assim tão bem às três da manhã, com a boca seca. Fica-se com a impressão (esquisita) de que nada basta. E depois torna-se ainda mais lixado, porque, no fundo, a ninguém apetece pensar. Nem mesmo a mim. Mas já o disse: falo de mais. Às vezes penso. Sou assim.
Ora, sei lá como é que sou... Alguém sabe? O que vale é que os outros estão sempre a dizer-nos e nós a eles e por aí adiante.
De onde venho eu hoje? Da pele da noite.
A pele da noite é andar pelos bares em voga às voltas, a beber, a ouvir música, a olhar, a tirar medidas, e mais isto mais aquilo. O que uma pessoa se aborrece... Deve ser por isso que estamos sempre a rir, a rir e é uma miséria. A verdade é que me sinto cada vez mais distante e cansado de todas as pessoas. Provavelmente é de as observar muito, e de serem sempre as mesmas, no mesmo filme.
(Estou a escrever e parece-me estar mesmo a ver aqueles tipos que só gostam de histórias já a rabujarem: “Então quando é que a puta da história começa?” Bom, quero que esses tipos se fodam.)
A pele da noite é andar pelos bares em voga às voltas, a beber, a ouvir música, a olhar, a tirar medidas, e mais isto mais aquilo. O que uma pessoa se aborrece... Deve ser por isso que estamos sempre a rir, a rir e é uma miséria. A verdade é que me sinto cada vez mais distante e cansado de todas as pessoas. Provavelmente é de as observar muito, e de serem sempre as mesmas, no mesmo filme.
(Estou a escrever e parece-me estar mesmo a ver aqueles tipos que só gostam de histórias já a rabujarem: “Então quando é que a puta da história começa?” Bom, quero que esses tipos se fodam.)
Já vivi em três primeiros andares, num segundo e num rés-do-chão. Sempre em prédios, portanto. Apanhado pela cidade. E há vinte e quatro horas que não durmo.
Tudo o resto — os oásis, os desertos de areia ou água, as montanhas, até mesmo as simples paisagens desabitadas que de mais perto rodeiam as urbanizações — é mito, literatura, canções, um álbum de estampas coloridas que avidamente se folheava aos dez anos, numa história qualquer.
Ou então vai-se à praia, por exemplo, vêem-se três dunas pequenas e bem alinhadas e diz-se: “até parece o Saara”. É o que as pessoas chamam a imaginação.
Tudo o resto — os oásis, os desertos de areia ou água, as montanhas, até mesmo as simples paisagens desabitadas que de mais perto rodeiam as urbanizações — é mito, literatura, canções, um álbum de estampas coloridas que avidamente se folheava aos dez anos, numa história qualquer.
Ou então vai-se à praia, por exemplo, vêem-se três dunas pequenas e bem alinhadas e diz-se: “até parece o Saara”. É o que as pessoas chamam a imaginação.
Sou dos que falam de mais. Aqueles que me conhecem de andarmos por aí, quando me encontram, cumprimentam-me assim: “Então, poeta? Tudo bem?”
Tudo bem. Pois.
Mas nunca estive em Capri. Aliás, porque me estou eu a lembrar de Capri? É um nome de uma fealdade imediata, evidente. (Será do vinho?)
Também nunca estive em Moscovo, nem em Turim, nem na Nova Zelândia, nem em muitos outros lugares. Nem sequer em Aveiro, veja-se bem: uma terra próxima. Aveiro tem uma ria, dizem.
Tudo bem. Pois.
Mas nunca estive em Capri. Aliás, porque me estou eu a lembrar de Capri? É um nome de uma fealdade imediata, evidente. (Será do vinho?)
Também nunca estive em Moscovo, nem em Turim, nem na Nova Zelândia, nem em muitos outros lugares. Nem sequer em Aveiro, veja-se bem: uma terra próxima. Aveiro tem uma ria, dizem.
Um poeta em Capri a beber vinho local. Escuta:
Um poeta em Xangai não toma banho, em Paris vende tecidos perfumados, em Madrid canta, em Londres discursa.
Por todo o lado ele faz amor.
Percebes ou não? Na Austrália pilota aviões: é poeta. É poeta em Marselha, usa o cabelo curto, o cabelo comprido, fala francês no Canadá, em Moscovo dá gargalhadas.
Um poeta dois poetas três poetas
Escuta. Serás surdo. Mas lembra-te: avisaram-te. O reino dos poetas é maldito.
E tu és livre. Tens de ser.
Um poeta em Xangai não toma banho, em Paris vende tecidos perfumados, em Madrid canta, em Londres discursa.
Por todo o lado ele faz amor.
Percebes ou não? Na Austrália pilota aviões: é poeta. É poeta em Marselha, usa o cabelo curto, o cabelo comprido, fala francês no Canadá, em Moscovo dá gargalhadas.
Um poeta dois poetas três poetas
Escuta. Serás surdo. Mas lembra-te: avisaram-te. O reino dos poetas é maldito.
E tu és livre. Tens de ser.
Ao acordar, ao despertar — lembrei-me agora — o poeta disse-se “doido” para o espelho, imaginando o braço erguido com o punho fechado. Mas não era necessário, não valia a pena: só estava ele.
O poeta e as mulheres e a vida: é o verão. De Dezembro e Janeiro diz que são tempos de tristeza dura. Diz: “É preciso acasalar com a Prima Vera, aprender com surpresa até mesmo a dor da chuva a fustigar o rosto...”
O poeta acende cigarros de haxixe e sorri para a plateia. Diz: “bom, miúdos...” Está sentado. Vai pôr-se de pé.
O poeta acende cigarros de haxixe e sorri para a plateia. Diz: “bom, miúdos...” Está sentado. Vai pôr-se de pé.
O poeta esquece-se de escrever os poemas, consome-os nos gestos, ninguém para os ver, toda a gente a olhar.
Dêem uma arma a um poeta e ele ficará desarmado. (Talvez, por jogo, ou curiosidade, se experimente criminoso...) Mas deixem-lhe as mãos nuas. Aí sim, tereis o perigo, qualquer que ele seja.
O poeta ficou mais um bocado, sentado no banco de jardim, a pensar:
“O público é inútil, o público é estúpido. Um poeta fala alto os poemas, mas só as orelhas o ouvem: as cabeças colocam-se sempre aquém”.
A pensar:
“Os homens do meu tempo não servem para nada. Cuidam das mãos de uma forma ambígua, usam-nas para estrangular poetas. Tomam ares funcionais, quando o fazem. Às vezes, discreta e distraidamente, chegam mesmo a sorrir”.
A pensar:
“Se calhar, um inglês é que descobriu que o tempo nos pólos anda mais devagar. Se calhar não foi um poeta, que os poetas não são de fazer descobertas”.
A pensar:
“Já somos mais de cinco biliões, estamos a chegar aos últimos anos deste século (sou testemunha), e agora, finalmente, todas as coisas se começam a relacionar com verdadeira intimidade. Trata-se, contudo, de mais um logro, optimista, ditado pelas aparências. Assim, se me apetecesse, e sem abandono da justiça, poderia declarar: apesar de tudo, o maior desperdício que se verifica à face deste planeta continua a ser de inteligência”.
A pensar, poeta:
“Que bom seria, realmente, conhecer todas as cidades, todos os rios e lagos e mares, todas as montanhas, todos os nomes, sabores, cheiros, linguagens, a medida exacta de todas distâncias...”
A pensar:“Se calhar, o tempo nos pólos anda mas é mais depressa”.
“O público é inútil, o público é estúpido. Um poeta fala alto os poemas, mas só as orelhas o ouvem: as cabeças colocam-se sempre aquém”.
A pensar:
“Os homens do meu tempo não servem para nada. Cuidam das mãos de uma forma ambígua, usam-nas para estrangular poetas. Tomam ares funcionais, quando o fazem. Às vezes, discreta e distraidamente, chegam mesmo a sorrir”.
A pensar:
“Se calhar, um inglês é que descobriu que o tempo nos pólos anda mais devagar. Se calhar não foi um poeta, que os poetas não são de fazer descobertas”.
A pensar:
“Já somos mais de cinco biliões, estamos a chegar aos últimos anos deste século (sou testemunha), e agora, finalmente, todas as coisas se começam a relacionar com verdadeira intimidade. Trata-se, contudo, de mais um logro, optimista, ditado pelas aparências. Assim, se me apetecesse, e sem abandono da justiça, poderia declarar: apesar de tudo, o maior desperdício que se verifica à face deste planeta continua a ser de inteligência”.
A pensar, poeta:
“Que bom seria, realmente, conhecer todas as cidades, todos os rios e lagos e mares, todas as montanhas, todos os nomes, sabores, cheiros, linguagens, a medida exacta de todas distâncias...”
A pensar:“Se calhar, o tempo nos pólos anda mas é mais depressa”.
O poeta estava sentado num banco de jardim. Chegou o jornalista e sentou-se a seu lado.
— O jornalista é um cavalo doméstico — afirmou o poeta. — Qualquer ideologia o monta.
— E tu? — perguntou-lhe o jornalista.
— Eu sou poeta.
— Tens a certeza?
— Absoluta.
— Diz-me outra vez o que é o jornalista.
— O jornalista é um boi do discernimento: tem a grande pachorra do raciocínio inútil.
— Diz outra vez.
— O jornalista é um bode.
— Porquê?
— Não tem explicação. Conheci um jornalista que antes tinha sido professor de História. A última vez que o vi foi a assistir a um concerto de rock.
— É tudo?
— Não. Escuta: o poeta é um macaco, o macaco é um jornalista, os jornalistas são poetas franceses e americanos.
— É tudo?
O jornalista começava já a impacientar-se.
— Neste momento é — concluiu o poeta.
O jornalista foi para casa escrever um artigo para a vigésima página. O poeta ficou ainda mais um bocado, a pensar.
Lembrava-se vagamente de que o concerto de rock não tinha sido mau.
— O jornalista é um cavalo doméstico — afirmou o poeta. — Qualquer ideologia o monta.
— E tu? — perguntou-lhe o jornalista.
— Eu sou poeta.
— Tens a certeza?
— Absoluta.
— Diz-me outra vez o que é o jornalista.
— O jornalista é um boi do discernimento: tem a grande pachorra do raciocínio inútil.
— Diz outra vez.
— O jornalista é um bode.
— Porquê?
— Não tem explicação. Conheci um jornalista que antes tinha sido professor de História. A última vez que o vi foi a assistir a um concerto de rock.
— É tudo?
— Não. Escuta: o poeta é um macaco, o macaco é um jornalista, os jornalistas são poetas franceses e americanos.
— É tudo?
O jornalista começava já a impacientar-se.
— Neste momento é — concluiu o poeta.
O jornalista foi para casa escrever um artigo para a vigésima página. O poeta ficou ainda mais um bocado, a pensar.
Lembrava-se vagamente de que o concerto de rock não tinha sido mau.
Hoje é terça-feira. Não é? Está bem, talvez não seja. Não importa. Fique aí. Agora vou-lhe mostrar um pedaço do poeta. As mãos, por exemplo: ah, sim, eis um mundo inteiro.
Na América Latina houve em tempos um poeta que escreveu uma ode às mãos. Acho que fez muito bem em que escrevê-la: as mãos são realmente importantes, servem para tudo. Nem a invenção do cinema se lhes compara.
Nas canções populares também se fala muito das mãos:
... olha bem para estas mãos...
... tenho uma mão cheia de nada...
... dá-me a tua mão meu amor...
... quem tem mão tem tudo...
... E quem não tem mão é maneta.
Bom, lirismos não, que se torna de mais. Quer dizer: duas mãos é que é bom, e pronto. Ora repare:
Repare nas articulações, nas palavras que brotam dos dedos, nos pêlos, nos calos, no asseio das unhas, e o indicador em riste, a oponência do polegar, o dedo no nariz ou na comichão, os anéis enrolados nos ossos escondidos pela pele... tudo.
Nas palmas das mãos, mulheres estranhas, estrangeiras, descobrem o significado das linhas que nos cosem e cozem a vida.
As mãos. A chatice.
Sabe o que é que o poeta da América Latina escreveu? “As mãos são igualdade, fraternidade e liberdade”. Nem mais. Era um original. Quando estavam quase a matá-lo, deram-lhe flores para ele comer, mas o que é facto é que já tinha perdido por completo o apetite. Disse apenas, provavelmente a pensar em bolsos: “as mãos são uma chatice”.
Tinham-lhas cortado, e doía-lhe.
Na América Latina houve em tempos um poeta que escreveu uma ode às mãos. Acho que fez muito bem em que escrevê-la: as mãos são realmente importantes, servem para tudo. Nem a invenção do cinema se lhes compara.
Nas canções populares também se fala muito das mãos:
... olha bem para estas mãos...
... tenho uma mão cheia de nada...
... dá-me a tua mão meu amor...
... quem tem mão tem tudo...
... E quem não tem mão é maneta.
Bom, lirismos não, que se torna de mais. Quer dizer: duas mãos é que é bom, e pronto. Ora repare:
Repare nas articulações, nas palavras que brotam dos dedos, nos pêlos, nos calos, no asseio das unhas, e o indicador em riste, a oponência do polegar, o dedo no nariz ou na comichão, os anéis enrolados nos ossos escondidos pela pele... tudo.
Nas palmas das mãos, mulheres estranhas, estrangeiras, descobrem o significado das linhas que nos cosem e cozem a vida.
As mãos. A chatice.
Sabe o que é que o poeta da América Latina escreveu? “As mãos são igualdade, fraternidade e liberdade”. Nem mais. Era um original. Quando estavam quase a matá-lo, deram-lhe flores para ele comer, mas o que é facto é que já tinha perdido por completo o apetite. Disse apenas, provavelmente a pensar em bolsos: “as mãos são uma chatice”.
Tinham-lhas cortado, e doía-lhe.
Nos semáforos, o poeta encontrou o engenheiro.
— Saudações, ó construtor — disse o poeta.
— O que é construir? — perguntou-lhe o engenheiro.
E respondeu o poeta:
— Construir é destruir. É conhecimento em acção. É como dizer: as pessoas são sacos vazios. Bom, vão-se enchendo. Depois chega povo a Babel. Constrói-se a torre, confundem-se as línguas, a torre cai. Babel, no entanto, continua a existir: a torre cai sempre, ergue-se sempre. Destruir é construir.
— Sinto-me feliz por não ser arquitecto — afirmou, convicto, o engenheiro.
— Porquê? Todo o trabalho é construção.
O sinal ficou verde. O poeta atravessou a rua, o engenheiro não.
— Saudações, ó construtor — disse o poeta.
— O que é construir? — perguntou-lhe o engenheiro.
E respondeu o poeta:
— Construir é destruir. É conhecimento em acção. É como dizer: as pessoas são sacos vazios. Bom, vão-se enchendo. Depois chega povo a Babel. Constrói-se a torre, confundem-se as línguas, a torre cai. Babel, no entanto, continua a existir: a torre cai sempre, ergue-se sempre. Destruir é construir.
— Sinto-me feliz por não ser arquitecto — afirmou, convicto, o engenheiro.
— Porquê? Todo o trabalho é construção.
O sinal ficou verde. O poeta atravessou a rua, o engenheiro não.
O poeta é um cavalo sem sela a galope pela floresta. O poeta não tem nome.
Poeta. O seu nome: branco como o ar do sul, branco como o algodão das montanhas, transparente como o ar frio do mais rigoroso inverno.
O poeta vestido de negro, conhecedor da morte, seu próprio luto.
O poeta a oriente, em Bagdade, com véu, tapete voador, a conversar com Aladino.
(Eu bem te avisei de que não ias entender. Mas, seja como for, escuta ainda:)
Poeta. O seu nome: branco como o ar do sul, branco como o algodão das montanhas, transparente como o ar frio do mais rigoroso inverno.
O poeta vestido de negro, conhecedor da morte, seu próprio luto.
O poeta a oriente, em Bagdade, com véu, tapete voador, a conversar com Aladino.
(Eu bem te avisei de que não ias entender. Mas, seja como for, escuta ainda:)
Em outra mesa estava uma mulher, e não havia mais nenhum cliente. Um dos empregados veio e perguntou ao poeta:
— O que deseja tomar?
— O mesmo que aquela mulher ali — respondeu o poeta.
A mulher da mesa ao lado tomou ar de quem ia dizer alguma coisa, mas não disse. Tinha mais de trinta anos; era loira, com os lábios pintados de vermelho baço, e um traço denso de lápis preto em redor dos olhos grandes e tristes. Usava um vestido negro, bastante decotado, e sapatos de salto alto. O poeta olhou-a e, nesse olhar, disse-lhe que a achava desejável. “Mais uma gentileza gratuita”, pensou.
O empregado reapareceu com uma garrafa de uma bebida tropical e um cálice mal lavado. Serviu o licor e tornou a afastar-se. O poeta, já homem de Abril, saboreou a bebida, num breve trago, e acendeu um cigarro.
A mulher de negro tinha as pernas curtas e maciças, as ancas largas, os seios pequenos, e dormia a olhar para a escuridão do tecto, como se estivesse prisioneira.
O poeta bocejou. Não estava com paciência para aqueles poemas. (Por exemplo: o cabelo da mulher agarrado à nuca, sem uma mão de carícias para lhe dar soltura — equilíbrio — dimensão; as longas horas de vigília a olhar para o tecto vazio, desprovido de luz, peso frio da parede, chão da gente do andar de cima).
O homem velho retomou a leitura do jornal.
O poeta acabou de tomar a sua bebida, pagou-a e saiu. Entrar e sair de lugares era uma das suas especialidades quotidianas.
— O que deseja tomar?
— O mesmo que aquela mulher ali — respondeu o poeta.
A mulher da mesa ao lado tomou ar de quem ia dizer alguma coisa, mas não disse. Tinha mais de trinta anos; era loira, com os lábios pintados de vermelho baço, e um traço denso de lápis preto em redor dos olhos grandes e tristes. Usava um vestido negro, bastante decotado, e sapatos de salto alto. O poeta olhou-a e, nesse olhar, disse-lhe que a achava desejável. “Mais uma gentileza gratuita”, pensou.
O empregado reapareceu com uma garrafa de uma bebida tropical e um cálice mal lavado. Serviu o licor e tornou a afastar-se. O poeta, já homem de Abril, saboreou a bebida, num breve trago, e acendeu um cigarro.
A mulher de negro tinha as pernas curtas e maciças, as ancas largas, os seios pequenos, e dormia a olhar para a escuridão do tecto, como se estivesse prisioneira.
O poeta bocejou. Não estava com paciência para aqueles poemas. (Por exemplo: o cabelo da mulher agarrado à nuca, sem uma mão de carícias para lhe dar soltura — equilíbrio — dimensão; as longas horas de vigília a olhar para o tecto vazio, desprovido de luz, peso frio da parede, chão da gente do andar de cima).
O homem velho retomou a leitura do jornal.
O poeta acabou de tomar a sua bebida, pagou-a e saiu. Entrar e sair de lugares era uma das suas especialidades quotidianas.
E nasceram flores.
— As mulheres querem-se pequenas como as sardinhas — proferiu uma voz alta, na mesa ao lado, um homem velho.
Era o homem de Outubro e Novembro, azedo, ávido leitor de jornais diários.
O poeta estava em Março, Abril, Maio. Lembrou-se de uma manhã distraída em que tinha tentado falar com o outro — esforço que acabara por se revelar inútil: achavam-se irremediavelmente desencontrados, na inteligência, na experiência, nas ambições.
“Deixemo-lo falar”, pensou o poeta. “Ele precisa”.
— As mulheres querem-se pequenas como as sardinhas — proferiu uma voz alta, na mesa ao lado, um homem velho.
Era o homem de Outubro e Novembro, azedo, ávido leitor de jornais diários.
O poeta estava em Março, Abril, Maio. Lembrou-se de uma manhã distraída em que tinha tentado falar com o outro — esforço que acabara por se revelar inútil: achavam-se irremediavelmente desencontrados, na inteligência, na experiência, nas ambições.
“Deixemo-lo falar”, pensou o poeta. “Ele precisa”.
O computador chegou, com olheiras, e começou logo a falar de organização. O poeta não lhe ligou; fez que sim, com a cabeça, repetidas vezes, mas apenas por mera cortesia: os computadores auto-suficientes estavam a tornar-se demasiado susceptíveis às coisas da civilização, e agora era preciso ajudá-los de alguma forma. Stress dos circuitos. Conversar? Pois sim.
Teatro com muita encenação e teatro com pouca encenação, negócios grandes, filmagens e imagens, de tudo isso o computador falou ainda, sem por um momento abrandar o ritmo bem cadenciado do seu monólogo.
Discretamente, o poeta bocejou. O tédio magoava-o mais que a própria dor, e não estava mesmo com paciência para suportar tudo aquilo.
— Estou com alguma pressa — afirmou ele, erguendo-se em si.
Teatro com muita encenação e teatro com pouca encenação, negócios grandes, filmagens e imagens, de tudo isso o computador falou ainda, sem por um momento abrandar o ritmo bem cadenciado do seu monólogo.
Discretamente, o poeta bocejou. O tédio magoava-o mais que a própria dor, e não estava mesmo com paciência para suportar tudo aquilo.
— Estou com alguma pressa — afirmou ele, erguendo-se em si.
Entrou no café — como sempre, ouvia-se o rádio por trás do balcão, em FM, a tocar canções para o êxito — , sentou-se e aguardou.
Sentou-se e nasceram flores.
Sentou-se e nasceram flores.
Era o computador, para falar com ele.
— Diz — disse o poeta, a ver-se nu no chão do quarto, a cinza do cigarro a cair para o espelho alcatifado.
— Posso ir aí? — perguntou o computador, com alguma ansiedade na voz. — Não dormi nada esta noite. Creio que é novamente aquele maldito stress dos circuitos. — Quase implorou: — Preciso mesmo de falar com alguém.
— Vou sair — disse o poeta. — Passo pelo café.
— Encontramo-nos lá?
— Pode ser. Mas só fico por dez minutos.
O computador desligou. O poeta lavou-se, vestiu-se e saiu.
— Diz — disse o poeta, a ver-se nu no chão do quarto, a cinza do cigarro a cair para o espelho alcatifado.
— Posso ir aí? — perguntou o computador, com alguma ansiedade na voz. — Não dormi nada esta noite. Creio que é novamente aquele maldito stress dos circuitos. — Quase implorou: — Preciso mesmo de falar com alguém.
— Vou sair — disse o poeta. — Passo pelo café.
— Encontramo-nos lá?
— Pode ser. Mas só fico por dez minutos.
O computador desligou. O poeta lavou-se, vestiu-se e saiu.
O poeta acordou a meio do dia e não quis saber como é que o dia tinha nascido. Não abriu as janelas. Não acendeu luzes.
Levantou-se — estava vivo e por isso levantou-se — , ainda com os olhos fechados. Bebeu água do copo que estava sobre a mesa-de-cabeceira e sentiu-se com sono outra vez. Acendeu um cigarro e pôs um disco a tocar. Pensou no que seria ser um daqueles animais de estimação que algumas mulheres de trinta anos se dão ao luxo de ter à solta pela casa.
O poeta miou, uivou, lambeu-se, comeu o canário sem imaginação, o pão com manteiga, a laranja fresca. Vomitou tudo nas mãos de um deus, abriu enfim a janela. Havia sol.
O telefone tocou.
Levantou-se — estava vivo e por isso levantou-se — , ainda com os olhos fechados. Bebeu água do copo que estava sobre a mesa-de-cabeceira e sentiu-se com sono outra vez. Acendeu um cigarro e pôs um disco a tocar. Pensou no que seria ser um daqueles animais de estimação que algumas mulheres de trinta anos se dão ao luxo de ter à solta pela casa.
O poeta miou, uivou, lambeu-se, comeu o canário sem imaginação, o pão com manteiga, a laranja fresca. Vomitou tudo nas mãos de um deus, abriu enfim a janela. Havia sol.
O telefone tocou.
Tu que lês, não vais entender. Escuta:
Um poeta na Europa come bifes de carne de cavalo.
Não vais entender. Não vais cantar, cantor. Escuta:
Um poeta em Nova Iorque: jazz da rua.
Um poeta em casa não está em casa, está nu, não recebe ninguém, a casa é o mundo.
Não dances, bailarina. Escuta. Pensa:
Um poeta em África tem casa na praia.
Um poeta na Europa come bifes de carne de cavalo.
Não vais entender. Não vais cantar, cantor. Escuta:
Um poeta em Nova Iorque: jazz da rua.
Um poeta em casa não está em casa, está nu, não recebe ninguém, a casa é o mundo.
Não dances, bailarina. Escuta. Pensa:
Um poeta em África tem casa na praia.
A RAINHA LOUCA
Porque estimava muito em especial o tradutor sombrio que trazia consigo junto ao coração, a rainha louca pensara, um dia, que seria boa acção compensar, através dele, todos os tradutores do lado de lá das fronteiras, dar-lhes um mundo ideal para viverem em paz os seus mais íntimos momentos de descanso. Assim, decidiu contar-lhes a história de um deles.
Ele, ao tomar conhecimento das intenções da rainha, teve opinião diferente, e disse-lhe somente assim: “os tradutores não têm história”.
“Então conta-me tu uma história, para eu viver”, pediu a rainha. “Mas não recordes: inventa”.
“Talvez um dia”, afirmou ele. “Talvez um dia eu precise disso, ou me atreva, ou seja capaz”.
No entanto, ninguém é rei no mundo de outrém, e por isso, em segredo, já a rainha ensaiava os primeiros passos para a concretização da sua ideia. E ele, embora ignorasse tal facto, estava, fosse como fosse, em posição de compreender o desejo da rainha. Porque, para ela, ele era a obsessão que simultaneamente a atraía e lhe doía, e era lógico que quisesse fazer qualquer coisa de concreto em relação a essa ambiguidade, que, a não ser compreendida e digerida, acabaria por destruir a sua própria identidade.
A rainha louca tinha um escritório só para si, uma secretária em madeira sólida, ampla e activa. Ali lhe passavam pelas mãos papéis sobre os mais variados assuntos, e até mesmo papel em branco. E, às vezes, era aquilo: a caneta entre os dedos a pingar da gonorreia azul que lhe definia a existência, pintando palavras inesperadas em breves apontamentos incontroláveis. E a rainha observava, apenas.
“O tradutor isolou-se do mundo, deixou para trás os prazeres mundanos. Eu era o seu diabo, brincava com ele aos insultos. Perguntava-lhe, por exemplo:
— Quando é que te casas? Começas a atingir a maturidade suficiente para dares esse passo tão importante na vida de qualquer ser humano.
— Não penses nisso.
— Então com quem é que fazes amor?
— Comigo. Masturbo-me. Sou voyeur, narciso. Tenho a melhor colecção de pornografia do país, aliás.
— Já não sentes nada, não é?”
Etc.
E tudo acabava no mesmo instante. A rainha acendia um cigarro, levantava-se da sua cadeira macia e ia até à janela. Havia sol, um relvado, crianças ao longe aos pontapés a uma bola de borracha. Ele vivia mais longe ainda, muito mais, apesar da velocidade das máquinas modernas, e à rainha louca parecia-lhe que nunca deixaria de ser a boneca de porcelana na casa dos malucos. Era uma sensação que, com o tempo, se tinha tornado absolutamente insuportável.
No escritório havia um espelho. Ela erguia as saias e via-se por baixo. Depois apontava-se no peito e dizia-se, em voz alta, em silêncio: “a alegria, é aqui que me dói”. E ria-se. Estava mesmo a enlouquecer.
Entretanto, o tempo de trabalho ia andando, às vezes tão angustiadamente como uma roda de tortura — papéis para assinar, decisões a tomar. Chegava, enfim, a hora de retomar a verdade da vida, as ruas sempre as mesmas: a pessoalidade, como se poderia dizer.
“Ouve, escuta...” Ela a falar consigo própria, uma vez mais. Os carros a passar. A brisa. “Assim não vais longe”. O céu.
Vinha aí o fim-de-semana, poderia comprar um tradutor no quiosque do costume.
Uma merda. Não podia. E vinha também mais um pedaço de história, à margem da história.
“O tradutor aborrece-se, mas não boceja. É engraçado, curioso: não boceja nem pestaneja. De mim diz ele que sou a rainha louca. Estou apaixonada por ele. Não sei porquê, não tenho razões razoáveis para isso. Já lhe disse uma vez:
‘Vou escrever um livro para ti, a falar de ti e na tua língua. Gostaria que depois o traduzisses para mim’ ”.
Mas voltemos ao amor, aos seus porquês. A tudo o que não sei. Às vezes penso que é apenas por causa do seu olhar. Do seu mistério, guardado por trás das pupilas negras de carvão. Daquela sua maneira insolente de se sentar nos maples moles, também, talvez... Talvez, porque tudo nele é um desafio. Com ele eu aprendi como é difícil as pessoas comunicarem entre si. Mas eu quero comunicar, e ele é como um teste decisivo. Bom, é o que sinto.
A casa dele é um sonho, e eu penso: “estou a dormir; nada disto faz sentido”.
Ele, ao tomar conhecimento das intenções da rainha, teve opinião diferente, e disse-lhe somente assim: “os tradutores não têm história”.
“Então conta-me tu uma história, para eu viver”, pediu a rainha. “Mas não recordes: inventa”.
“Talvez um dia”, afirmou ele. “Talvez um dia eu precise disso, ou me atreva, ou seja capaz”.
No entanto, ninguém é rei no mundo de outrém, e por isso, em segredo, já a rainha ensaiava os primeiros passos para a concretização da sua ideia. E ele, embora ignorasse tal facto, estava, fosse como fosse, em posição de compreender o desejo da rainha. Porque, para ela, ele era a obsessão que simultaneamente a atraía e lhe doía, e era lógico que quisesse fazer qualquer coisa de concreto em relação a essa ambiguidade, que, a não ser compreendida e digerida, acabaria por destruir a sua própria identidade.
A rainha louca tinha um escritório só para si, uma secretária em madeira sólida, ampla e activa. Ali lhe passavam pelas mãos papéis sobre os mais variados assuntos, e até mesmo papel em branco. E, às vezes, era aquilo: a caneta entre os dedos a pingar da gonorreia azul que lhe definia a existência, pintando palavras inesperadas em breves apontamentos incontroláveis. E a rainha observava, apenas.
“O tradutor isolou-se do mundo, deixou para trás os prazeres mundanos. Eu era o seu diabo, brincava com ele aos insultos. Perguntava-lhe, por exemplo:
— Quando é que te casas? Começas a atingir a maturidade suficiente para dares esse passo tão importante na vida de qualquer ser humano.
— Não penses nisso.
— Então com quem é que fazes amor?
— Comigo. Masturbo-me. Sou voyeur, narciso. Tenho a melhor colecção de pornografia do país, aliás.
— Já não sentes nada, não é?”
Etc.
E tudo acabava no mesmo instante. A rainha acendia um cigarro, levantava-se da sua cadeira macia e ia até à janela. Havia sol, um relvado, crianças ao longe aos pontapés a uma bola de borracha. Ele vivia mais longe ainda, muito mais, apesar da velocidade das máquinas modernas, e à rainha louca parecia-lhe que nunca deixaria de ser a boneca de porcelana na casa dos malucos. Era uma sensação que, com o tempo, se tinha tornado absolutamente insuportável.
No escritório havia um espelho. Ela erguia as saias e via-se por baixo. Depois apontava-se no peito e dizia-se, em voz alta, em silêncio: “a alegria, é aqui que me dói”. E ria-se. Estava mesmo a enlouquecer.
Entretanto, o tempo de trabalho ia andando, às vezes tão angustiadamente como uma roda de tortura — papéis para assinar, decisões a tomar. Chegava, enfim, a hora de retomar a verdade da vida, as ruas sempre as mesmas: a pessoalidade, como se poderia dizer.
“Ouve, escuta...” Ela a falar consigo própria, uma vez mais. Os carros a passar. A brisa. “Assim não vais longe”. O céu.
Vinha aí o fim-de-semana, poderia comprar um tradutor no quiosque do costume.
Uma merda. Não podia. E vinha também mais um pedaço de história, à margem da história.
“O tradutor aborrece-se, mas não boceja. É engraçado, curioso: não boceja nem pestaneja. De mim diz ele que sou a rainha louca. Estou apaixonada por ele. Não sei porquê, não tenho razões razoáveis para isso. Já lhe disse uma vez:
‘Vou escrever um livro para ti, a falar de ti e na tua língua. Gostaria que depois o traduzisses para mim’ ”.
Mas voltemos ao amor, aos seus porquês. A tudo o que não sei. Às vezes penso que é apenas por causa do seu olhar. Do seu mistério, guardado por trás das pupilas negras de carvão. Daquela sua maneira insolente de se sentar nos maples moles, também, talvez... Talvez, porque tudo nele é um desafio. Com ele eu aprendi como é difícil as pessoas comunicarem entre si. Mas eu quero comunicar, e ele é como um teste decisivo. Bom, é o que sinto.
A casa dele é um sonho, e eu penso: “estou a dormir; nada disto faz sentido”.
A rainha louca sabia, portanto, que estava a perder o seu tempo com o seu tradutor de eleição. Desejava libertar-se dele, mas, se possível, sem o perder. E isso não era possível. Daí o seu sofrimento. E se ela estava cansada de sofrer.
Existiria mesmo, aquele homem? Seria um homem?
Veio um novo livro para traduzir, precisamente na véspera de um fim-de-semana prolongado. Viajou para sul, a rainha, ao encontro do seu trabalhador-amor, e foi encontrá-lo a dormir. Porque é que tudo seria sempre tão fácil para ele?
Tudo menos o que ele queria, e ele não queria nada. Melhor: queria nada e queria viver.
Acordou-o. Disse-lhe:
— Vim apanhar sol. Trago também o último trabalho que quero que faças.
— Porquê o último? — quis saber ele, já desperto.
— Quero desligar-me de ti. De mim dizes que sou rainha, mas tu és o deus sanguinário de um egipto qualquer, e estás a alimentar-te de mim, e eu não quero ser mais o alimento que silencia essa fome. Vais ter de procurar outra vítima.
— Não.
— Não o quê?
— Não vou ter de procurar coisa alguma. Estou saciado, já tenho reservas para viver bem até à morte. Só me faltava desprender-me de ti, que és o meu único amor, mas não sabia como fazê-lo. Ainda bem que tiveste a coragem ou o discernimento bastantes para tomares a iniciativa. Gostaria, no entanto, de gozar estes últimos dias como se o que se passa fosse uma coisa boa. Depois, haverá milhares de coisas que vão perder importância, e era bom que isso não ficasse na memória de nenhum de nós como mais uma ferida.
O sol entrou de roldão pela janela grande, quando ele a abriu.
Encheu-lhe o corpo nu de brilho, de saúde, e a rainha olhou-o uma última vez, e depois desviou o olhar. Não, não ia ser como ele queria. Não iam ficar a pairar no tempo, na felicidade fictícia dos postais, na neblina solar que ele construíra como mundo só seu. Ela pressentia a realidade dele, mas não era capaz de a penetrar. E não ia ser agora que, como por magia, isso havia de acontecer. Teria o seu fim-de-semana doloroso noutro lugar.
Abriu a mala e poisou o livro a traduzir em cima da cama. Disse que se ia embora.
— Claro — disse ele. — Claro, não podia ser de outro modo, não é? Leva então esse livro, porque eu sei que já não serei capaz de traduzi-lo. Talvez tenha chegado, enfim, o tempo de eu escrever o meu próprio.
— Dizes isso por orgulho.
— E o que achas que me suporta a carne? Os ossos? Não: é sempre o orgulho, a consciência do que sou, aquela consciência que eu nunca soube transmitir a ninguém. Nunca ninguém me ouviu. Vê: esta casa é uma ilha. Seria esta a minha ambição maior, se tenho tido tantas outras oportunidades? Duvido. Mas agora sinto-me bem aqui. Aqui eu tenho uma dimensão real, porque é uma dimensão que criei, e que aceito. Tu chamas-lhe orgulho. Outros dirão crueldade, frieza, presunção. Falem então dos outros, e esqueçam-se de vocês próprios. Eu não. Já sabes que estou na frente de uma caravana, e que as caravanas acabam sempre por passar perante quem está sentado, a olhar. Mas eu sou ainda mais que isso. Sou a caravana a passar e o voyeur a olhar. E que vejo eu? Tudo. A minha caravana e a dos outros. Não receies por mim: já provei demasiado a insatisfação, e sei bem o que é a felicidade. Estou a falar assim, tanto, porque estou a despedir-me de ti, e há coisas que nunca mais terei a oportunidade de tas dizer. Se eu escrever um livro, prometes que o lês? Escreve-lo-ei a pensar em ti.
A rainha estava a fumar um cigarro. O fumo era áspero. Tossiu. Alguma coisa na garganta a magoava. Queria falar e não conseguia. A dor era cada vez mais incómoda. Ergueu-se da cama e caminhou de olhar baixo até ao terraço.
Ele saiu com ela. Era um ser tão bizarro que o próprio sofrimento lhe estava a dar gozo, ensinamentos. Tudo dependia, também, do tempero. E como sofrer até aos limites do insuportável perante aquelas especiarias todas — o céu mais azul do mundo, o sol a pairar no espaço, as histórias do mar ao longe?
Dançou ao redor da rainha, e ela chamou-lhe louco, louco, ele era louco, era isso.
Mas não era. As coisas não eram bem assim. Acontecia apenas que não havia, naquele momento, mais nada para dizer.
Estava ou não um Picasso numa das paredes da sala? A música que, a qualquer instante, poderia brotar do hi-fi, era ou não uma música verdadeira? Era ou não preciso um único gesto para pôr o carro a trabalhar, e sair dali para sempre?
Loucura, sim. Louco não.
Vai, vai, rainha; outros reinos, outros tronos me esperam. Tu já sabes qual é o meu alimento, mas não conheces o verdadeiro sabor da minha carne. Nunca me comeste.
Nem loucura, mas somente uma cólera imensa, misturada de alegria, aquilo que lhe saía do peito, de todo o coração apertado, como se tivesse tomado muita cocaína.
Ia continuar tradutor. Ia traduzir livros que ainda não estavam escritos. Ia...
Ela já não estava. Entrou em casa e ela não estava. Tinha levado o livro mas a marca dele ficara sobre a colcha branca.
Ela já não estava e ele chorou. Não chorou nem por si nem por ela: chorou porque também era capaz de sentir e de lamentar as perdas.
Depois tomou duche, vestiu-se e saiu para almoçar. Havia muita coisa a despertar-lhe o apetite.
Existiria mesmo, aquele homem? Seria um homem?
Veio um novo livro para traduzir, precisamente na véspera de um fim-de-semana prolongado. Viajou para sul, a rainha, ao encontro do seu trabalhador-amor, e foi encontrá-lo a dormir. Porque é que tudo seria sempre tão fácil para ele?
Tudo menos o que ele queria, e ele não queria nada. Melhor: queria nada e queria viver.
Acordou-o. Disse-lhe:
— Vim apanhar sol. Trago também o último trabalho que quero que faças.
— Porquê o último? — quis saber ele, já desperto.
— Quero desligar-me de ti. De mim dizes que sou rainha, mas tu és o deus sanguinário de um egipto qualquer, e estás a alimentar-te de mim, e eu não quero ser mais o alimento que silencia essa fome. Vais ter de procurar outra vítima.
— Não.
— Não o quê?
— Não vou ter de procurar coisa alguma. Estou saciado, já tenho reservas para viver bem até à morte. Só me faltava desprender-me de ti, que és o meu único amor, mas não sabia como fazê-lo. Ainda bem que tiveste a coragem ou o discernimento bastantes para tomares a iniciativa. Gostaria, no entanto, de gozar estes últimos dias como se o que se passa fosse uma coisa boa. Depois, haverá milhares de coisas que vão perder importância, e era bom que isso não ficasse na memória de nenhum de nós como mais uma ferida.
O sol entrou de roldão pela janela grande, quando ele a abriu.
Encheu-lhe o corpo nu de brilho, de saúde, e a rainha olhou-o uma última vez, e depois desviou o olhar. Não, não ia ser como ele queria. Não iam ficar a pairar no tempo, na felicidade fictícia dos postais, na neblina solar que ele construíra como mundo só seu. Ela pressentia a realidade dele, mas não era capaz de a penetrar. E não ia ser agora que, como por magia, isso havia de acontecer. Teria o seu fim-de-semana doloroso noutro lugar.
Abriu a mala e poisou o livro a traduzir em cima da cama. Disse que se ia embora.
— Claro — disse ele. — Claro, não podia ser de outro modo, não é? Leva então esse livro, porque eu sei que já não serei capaz de traduzi-lo. Talvez tenha chegado, enfim, o tempo de eu escrever o meu próprio.
— Dizes isso por orgulho.
— E o que achas que me suporta a carne? Os ossos? Não: é sempre o orgulho, a consciência do que sou, aquela consciência que eu nunca soube transmitir a ninguém. Nunca ninguém me ouviu. Vê: esta casa é uma ilha. Seria esta a minha ambição maior, se tenho tido tantas outras oportunidades? Duvido. Mas agora sinto-me bem aqui. Aqui eu tenho uma dimensão real, porque é uma dimensão que criei, e que aceito. Tu chamas-lhe orgulho. Outros dirão crueldade, frieza, presunção. Falem então dos outros, e esqueçam-se de vocês próprios. Eu não. Já sabes que estou na frente de uma caravana, e que as caravanas acabam sempre por passar perante quem está sentado, a olhar. Mas eu sou ainda mais que isso. Sou a caravana a passar e o voyeur a olhar. E que vejo eu? Tudo. A minha caravana e a dos outros. Não receies por mim: já provei demasiado a insatisfação, e sei bem o que é a felicidade. Estou a falar assim, tanto, porque estou a despedir-me de ti, e há coisas que nunca mais terei a oportunidade de tas dizer. Se eu escrever um livro, prometes que o lês? Escreve-lo-ei a pensar em ti.
A rainha estava a fumar um cigarro. O fumo era áspero. Tossiu. Alguma coisa na garganta a magoava. Queria falar e não conseguia. A dor era cada vez mais incómoda. Ergueu-se da cama e caminhou de olhar baixo até ao terraço.
Ele saiu com ela. Era um ser tão bizarro que o próprio sofrimento lhe estava a dar gozo, ensinamentos. Tudo dependia, também, do tempero. E como sofrer até aos limites do insuportável perante aquelas especiarias todas — o céu mais azul do mundo, o sol a pairar no espaço, as histórias do mar ao longe?
Dançou ao redor da rainha, e ela chamou-lhe louco, louco, ele era louco, era isso.
Mas não era. As coisas não eram bem assim. Acontecia apenas que não havia, naquele momento, mais nada para dizer.
Estava ou não um Picasso numa das paredes da sala? A música que, a qualquer instante, poderia brotar do hi-fi, era ou não uma música verdadeira? Era ou não preciso um único gesto para pôr o carro a trabalhar, e sair dali para sempre?
Loucura, sim. Louco não.
Vai, vai, rainha; outros reinos, outros tronos me esperam. Tu já sabes qual é o meu alimento, mas não conheces o verdadeiro sabor da minha carne. Nunca me comeste.
Nem loucura, mas somente uma cólera imensa, misturada de alegria, aquilo que lhe saía do peito, de todo o coração apertado, como se tivesse tomado muita cocaína.
Ia continuar tradutor. Ia traduzir livros que ainda não estavam escritos. Ia...
Ela já não estava. Entrou em casa e ela não estava. Tinha levado o livro mas a marca dele ficara sobre a colcha branca.
Ela já não estava e ele chorou. Não chorou nem por si nem por ela: chorou porque também era capaz de sentir e de lamentar as perdas.
Depois tomou duche, vestiu-se e saiu para almoçar. Havia muita coisa a despertar-lhe o apetite.
Quando chega o verão, os animais saem das suas tocas e vão até junto à água do mar e da água dos lagos e dos rios, deixam que o sol lhes lamba os corpos e adoram-no.
CINEMA
Era manhã hipotética, na casa vazia. Estava um homem à janela, com uns binóculos, a vigiar o oceano. O outro usava chapéu e óculos de sol, fumava, falava, sempre a andar de um lado para o outro. Entrou uma mulher que disse: “estou com fome”. Nenhum dos homens lhe respondeu, embora lhes apetecesse dizer coisas, dizer mesmo, não seguir o guião, não ser personagem.
Ele entrou e colocou-se por trás das câmaras, mas afastado, ao lado da anotadora. Piscou-lhe um olho. Ela correspondeu. O filme tinha começado a ser rodado há duas semanas, com tudo a correr bem, mas era muito possível que acabasse por falhar, no conjunto final.
Estava ali porque fora ele que construíra o guião, baseado num romance que traduzira. Era um bom livro, mas talvez um mau filme. Ideias de realizador. Contudo, fazer o quê, se ele é que tinha o dinheiro? Mais um idiota com dinheiro.
Apesar do guião ser seu, sentia-se solidário com os actores: era preciso dizer coisas, outras coisas, sair daquela casa vazia. Pensou na sua própria casa, pensou: “será que me ando a esconder entre paredes ideais?”, e pensou, finalmente: “hão-de ter mais sorte, talvez, lá para diante, à página cinquenta”. Mas, entretanto, morria-se, e a culpa era dele. Parte da culpa, pelo menos.
Houve um intervalo nas filmagens. O realizador passou a fazer vento, atarefado, toupeira, técnico, e ele disse-lhe:
— Quero falar contigo.
— Agora não. Às quatro.
E desapareceu.
— Então, divertes-te? — disse ele à anotadora.
— Estava a ver que nunca mais aparecias. Vou tomar um café. Vens comigo? Tenho dez minutos.
Saíram da casa e encostaram-se ao balcão do bar móvel, instalado numa carrinha grande, pintada com cores vivas.
Pediram dois cafés.
— Andamos sempre a correr — disse ela. — Mas não é mau de todo. Já trabalhei com tipos piores.
— E o filme?
— Falta-lhe acção. Não é um horror, mas faltava-lhe isso. Respiração, movimento, colorido.
— É um horror mesmo, confessa.
— A montagem é que vai decidir. O jogo das câmaras está bom...
— E os actores?
— Vão indo. Profissionais e exigentes, como é preciso. E vaidosos, também. Embora tenham razão, em alguns aspectos.
— As palavras?
— As palavras, por exemplo. Tu já viste. Mas não só.
— Vi. Mas o cinema não é real, e há silêncios cheios de significado. Tudo depende também do que se faz com eles.
Silêncios iguais à inexistência de vento entre os pinheiros bravos, à volta da casa vazia, invadida temporariamente por homens e mulheres de papel, casa vazia sempre.
— Deves saber mais disso do que eu. Afinal, a literatura é muda.
— Nunca percebi muito de literatura. — Acendeu um cigarro. — E mais? O que é “as palavras mas não só”?
— Uma questão de maturidade, talvez. Como quando se confunde desejo de perfeição com acumulação de signos. O simbolismo demasiado denso torna-se uma espécie de nevoeiro, fica-se sem se perceber o que se vê, ou o que se quer.
O café não prestava, sabia a ratos mortos com trigo roxo. Ela bebeu-o, distraidamente, mas ele deixou-o ficar, somente provado.
— E tu? — perguntou ela.
— Eu? — Sorriu. — Eu sei o que é preciso fazer para que o silêncio resulte.
— Vai lá dentro e explica-lhes.
— É essa a minha intenção.
— E tu? — Ela a repetir-se, as sobrancelhas num ângulo irónico.
— Outra vez? — Um sorriso imitativo.
— Ainda não me respondeste.
— Vou indo, como vês: profissional, exigente e também vaidoso. — Encolheu os ombros. — Como falar do que não sei?
O intervalo tinha acabado, entretanto.
Era preciso regressar ao interior da casa, tentar preenchê-la da melhor forma possível, fazer o filme.
— Fico cá por fora mais um bocado — disse o voyeur.
— Até já — despediu-se a anotadora.
Na estrada, mais adiante, passou um homem de bicicleta, a pedalar devagar. O local era aprazível, a solidão propunha-se com tranquilidade. Via-se o mar, farrapos brancos de nuvens no azul de aguarela do céu, o odor arejado do ar. Até a canção que tocava no rádio do bar, estrangeira, era agradável: uma melodia simples e eficaz, bem dimensionada. “Viver para contar”, traduziu ele, automaticamente. “Uma tarde feliz para todos os que nos escutam, são três horas e cinco minutos e”, disse o locutor, por cima da música, cumprindo o seu dever.
Contornou a casa e desceu pelas dunas até à praia. Não havia ondas: a água enrolava-se em silêncio por baixo de si própria, longe de quaisquer olhares.
Sentou-se na areia, acendeu outro cigarro, deitou-se para trás e fechou os olhos. Gostava do sul, daquele sul quase desértico e pouco civilizado, onde dominavam as paisagens monótonas e grandiosas, serenamente refractárias a todos os dilemas humanos modernos, os diálogos, as personalidades, os negócios.
De súbito, encheu-o o lúcido vislumbre de que tinha o conhecimento de algo realmente importante: a consciência de que era possível saber que a vida humana não tinha sentido concreto nenhum, e mesmo assim sobreviver.
Pensou: “Esvaziar-me de significados não implica que me suicide. Pode-se perfeitamente viver na certeza da inutilidade. Pode-se construir para nada. Pode-se perder, mas não falhar: ser-se bom sem outro objectivo que esse de se ser bom. Pode-se fazer um filme sem diálogos, sem enredo, sem mensagem — e, apesar disso, esse filme ser bom, bem feito, demonstrar competência, sensibilidade e sabedoria”.
Fechou-se a circunferência dos seus pensamentos, o cigarro acabado, e o voyeur ergueu-se, até ficar de novo sentado, os olhos de novo abertos. Incompleto.
Um navio começou a passar ao longe, a triturar o horizonte com as suas grandes hélices de bronze. No leme, ia um homem com um metro e setenta de altura, e uma boina preta na cabeça. Pelas janelas da ponte via o mar abrir-se, para que o seu navio passasse. Navio seu, não se duvide; porque, quando um homem está no leme, o navio que vai a conduzir pertence-lhe: é um mundo a viajar na pele doutro, um poder, uma paz, uma filosofia.
Na biblioteca de bordo, o comandante — um brasileiro filho de alemães, loiro, olhos azuis, quarenta e quatro anos de vida já vividos — , após o almoço, folheou ao acaso algumas páginas do terceiro volume das obras completas de um pensador europeu do século dezanove, enquanto ia tomando um café e um brandy. A ré, apoiada na balaustrada, o olhar esquecido na esteira de espuma feita pelo navio, a médica de bordo fumava um cigarro americano. O homem do leme ligou o piloto automático e foi até à asa da ponte de bombordo, dar uma espreitadela a terra, com os binóculos negros e pesados do comandante. Viu um vulto humano no areal luminoso, pinheiros, e uma casa branca, minúscula, com telhado vermelho. Na casa, à janela, um outro vulto, aparentemente empunhando uns binóculos, parecia estar também a espreitá-lo. Mas parecer nem sempre é ser: de facto, tratava-se apenas do mau da fita a cumprir o seu papel, na rodagem de um filme.
Pensou que talvez um dia, num filme qualquer que não aquele, ou num livro, num qualquer futuro, ainda havia de contar as breves histórias de todos aqueles personagens sem nome que já conhecera, mundo fora, nas suas vagabundagens: o comandante fascista ou romântico, a médica de bordo feia, o homem do leme, a princesa dos subúrbios da grande cidade, os pequenos heróis, os jogadores a olho, as mulheres fatais.
Incompleto. Mas isso já sabia.
“Em arte, bem feito implica sempre a existência de uma mensagem. Em tudo, aliás”.
Estava dito. Ergueu-se e caminhou para as águas. Havia um livro em que um homem caminhava sobre elas.
Pura magia, os milagres. Apesar dos cintos anti-gravidade de alguma ficção mais fantástica: de certo modo, qualquer coisa semelhante a essa magia impossível do estalar de dedos — alegorias velhas em corpo moderno: dignidade, verdade, paixão. O estilo.
Deixou que o mar viesse ver-lhe os pés, os sapatos bem engraxados, a sua pequenez de homem solitário.
Bichos primitivos sob a areia movediça da praia, de todas as praias. Bichos a labutarem no escuro.
Gritou. Palavra nenhuma. Ninguém para ouvi-lo. Apenas a solidão dolorosa, a solidão indolor — e, ao lado, através, a toda a volta como o ar, aquela luz incendiada de uma clarividência maior, qualidade que as paisagens desertas tinham o condão e a força de lhe conceder: esvaziava-se-lhe o espírito, vozes imateriais murmuravam-lhe a simplicidade e a harmonia que a frenética vozearia de toda-a-gente sempre lhe recusara. Gritou. A paz...
Voltou costas e regressou à certeza do celulóide. Luz. Acção. Corta. Repete.
Dignidade, verdade, paixão. Acção. A ausência de som.
Escalou as bossas do areal como se estivesse a chegar à conclusão de uma longa viagem por terras estrangeiras.
Ele entrou e colocou-se por trás das câmaras, mas afastado, ao lado da anotadora. Piscou-lhe um olho. Ela correspondeu. O filme tinha começado a ser rodado há duas semanas, com tudo a correr bem, mas era muito possível que acabasse por falhar, no conjunto final.
Estava ali porque fora ele que construíra o guião, baseado num romance que traduzira. Era um bom livro, mas talvez um mau filme. Ideias de realizador. Contudo, fazer o quê, se ele é que tinha o dinheiro? Mais um idiota com dinheiro.
Apesar do guião ser seu, sentia-se solidário com os actores: era preciso dizer coisas, outras coisas, sair daquela casa vazia. Pensou na sua própria casa, pensou: “será que me ando a esconder entre paredes ideais?”, e pensou, finalmente: “hão-de ter mais sorte, talvez, lá para diante, à página cinquenta”. Mas, entretanto, morria-se, e a culpa era dele. Parte da culpa, pelo menos.
Houve um intervalo nas filmagens. O realizador passou a fazer vento, atarefado, toupeira, técnico, e ele disse-lhe:
— Quero falar contigo.
— Agora não. Às quatro.
E desapareceu.
— Então, divertes-te? — disse ele à anotadora.
— Estava a ver que nunca mais aparecias. Vou tomar um café. Vens comigo? Tenho dez minutos.
Saíram da casa e encostaram-se ao balcão do bar móvel, instalado numa carrinha grande, pintada com cores vivas.
Pediram dois cafés.
— Andamos sempre a correr — disse ela. — Mas não é mau de todo. Já trabalhei com tipos piores.
— E o filme?
— Falta-lhe acção. Não é um horror, mas faltava-lhe isso. Respiração, movimento, colorido.
— É um horror mesmo, confessa.
— A montagem é que vai decidir. O jogo das câmaras está bom...
— E os actores?
— Vão indo. Profissionais e exigentes, como é preciso. E vaidosos, também. Embora tenham razão, em alguns aspectos.
— As palavras?
— As palavras, por exemplo. Tu já viste. Mas não só.
— Vi. Mas o cinema não é real, e há silêncios cheios de significado. Tudo depende também do que se faz com eles.
Silêncios iguais à inexistência de vento entre os pinheiros bravos, à volta da casa vazia, invadida temporariamente por homens e mulheres de papel, casa vazia sempre.
— Deves saber mais disso do que eu. Afinal, a literatura é muda.
— Nunca percebi muito de literatura. — Acendeu um cigarro. — E mais? O que é “as palavras mas não só”?
— Uma questão de maturidade, talvez. Como quando se confunde desejo de perfeição com acumulação de signos. O simbolismo demasiado denso torna-se uma espécie de nevoeiro, fica-se sem se perceber o que se vê, ou o que se quer.
O café não prestava, sabia a ratos mortos com trigo roxo. Ela bebeu-o, distraidamente, mas ele deixou-o ficar, somente provado.
— E tu? — perguntou ela.
— Eu? — Sorriu. — Eu sei o que é preciso fazer para que o silêncio resulte.
— Vai lá dentro e explica-lhes.
— É essa a minha intenção.
— E tu? — Ela a repetir-se, as sobrancelhas num ângulo irónico.
— Outra vez? — Um sorriso imitativo.
— Ainda não me respondeste.
— Vou indo, como vês: profissional, exigente e também vaidoso. — Encolheu os ombros. — Como falar do que não sei?
O intervalo tinha acabado, entretanto.
Era preciso regressar ao interior da casa, tentar preenchê-la da melhor forma possível, fazer o filme.
— Fico cá por fora mais um bocado — disse o voyeur.
— Até já — despediu-se a anotadora.
Na estrada, mais adiante, passou um homem de bicicleta, a pedalar devagar. O local era aprazível, a solidão propunha-se com tranquilidade. Via-se o mar, farrapos brancos de nuvens no azul de aguarela do céu, o odor arejado do ar. Até a canção que tocava no rádio do bar, estrangeira, era agradável: uma melodia simples e eficaz, bem dimensionada. “Viver para contar”, traduziu ele, automaticamente. “Uma tarde feliz para todos os que nos escutam, são três horas e cinco minutos e”, disse o locutor, por cima da música, cumprindo o seu dever.
Contornou a casa e desceu pelas dunas até à praia. Não havia ondas: a água enrolava-se em silêncio por baixo de si própria, longe de quaisquer olhares.
Sentou-se na areia, acendeu outro cigarro, deitou-se para trás e fechou os olhos. Gostava do sul, daquele sul quase desértico e pouco civilizado, onde dominavam as paisagens monótonas e grandiosas, serenamente refractárias a todos os dilemas humanos modernos, os diálogos, as personalidades, os negócios.
De súbito, encheu-o o lúcido vislumbre de que tinha o conhecimento de algo realmente importante: a consciência de que era possível saber que a vida humana não tinha sentido concreto nenhum, e mesmo assim sobreviver.
Pensou: “Esvaziar-me de significados não implica que me suicide. Pode-se perfeitamente viver na certeza da inutilidade. Pode-se construir para nada. Pode-se perder, mas não falhar: ser-se bom sem outro objectivo que esse de se ser bom. Pode-se fazer um filme sem diálogos, sem enredo, sem mensagem — e, apesar disso, esse filme ser bom, bem feito, demonstrar competência, sensibilidade e sabedoria”.
Fechou-se a circunferência dos seus pensamentos, o cigarro acabado, e o voyeur ergueu-se, até ficar de novo sentado, os olhos de novo abertos. Incompleto.
Um navio começou a passar ao longe, a triturar o horizonte com as suas grandes hélices de bronze. No leme, ia um homem com um metro e setenta de altura, e uma boina preta na cabeça. Pelas janelas da ponte via o mar abrir-se, para que o seu navio passasse. Navio seu, não se duvide; porque, quando um homem está no leme, o navio que vai a conduzir pertence-lhe: é um mundo a viajar na pele doutro, um poder, uma paz, uma filosofia.
Na biblioteca de bordo, o comandante — um brasileiro filho de alemães, loiro, olhos azuis, quarenta e quatro anos de vida já vividos — , após o almoço, folheou ao acaso algumas páginas do terceiro volume das obras completas de um pensador europeu do século dezanove, enquanto ia tomando um café e um brandy. A ré, apoiada na balaustrada, o olhar esquecido na esteira de espuma feita pelo navio, a médica de bordo fumava um cigarro americano. O homem do leme ligou o piloto automático e foi até à asa da ponte de bombordo, dar uma espreitadela a terra, com os binóculos negros e pesados do comandante. Viu um vulto humano no areal luminoso, pinheiros, e uma casa branca, minúscula, com telhado vermelho. Na casa, à janela, um outro vulto, aparentemente empunhando uns binóculos, parecia estar também a espreitá-lo. Mas parecer nem sempre é ser: de facto, tratava-se apenas do mau da fita a cumprir o seu papel, na rodagem de um filme.
Pensou que talvez um dia, num filme qualquer que não aquele, ou num livro, num qualquer futuro, ainda havia de contar as breves histórias de todos aqueles personagens sem nome que já conhecera, mundo fora, nas suas vagabundagens: o comandante fascista ou romântico, a médica de bordo feia, o homem do leme, a princesa dos subúrbios da grande cidade, os pequenos heróis, os jogadores a olho, as mulheres fatais.
Incompleto. Mas isso já sabia.
“Em arte, bem feito implica sempre a existência de uma mensagem. Em tudo, aliás”.
Estava dito. Ergueu-se e caminhou para as águas. Havia um livro em que um homem caminhava sobre elas.
Pura magia, os milagres. Apesar dos cintos anti-gravidade de alguma ficção mais fantástica: de certo modo, qualquer coisa semelhante a essa magia impossível do estalar de dedos — alegorias velhas em corpo moderno: dignidade, verdade, paixão. O estilo.
Deixou que o mar viesse ver-lhe os pés, os sapatos bem engraxados, a sua pequenez de homem solitário.
Bichos primitivos sob a areia movediça da praia, de todas as praias. Bichos a labutarem no escuro.
Gritou. Palavra nenhuma. Ninguém para ouvi-lo. Apenas a solidão dolorosa, a solidão indolor — e, ao lado, através, a toda a volta como o ar, aquela luz incendiada de uma clarividência maior, qualidade que as paisagens desertas tinham o condão e a força de lhe conceder: esvaziava-se-lhe o espírito, vozes imateriais murmuravam-lhe a simplicidade e a harmonia que a frenética vozearia de toda-a-gente sempre lhe recusara. Gritou. A paz...
Voltou costas e regressou à certeza do celulóide. Luz. Acção. Corta. Repete.
Dignidade, verdade, paixão. Acção. A ausência de som.
Escalou as bossas do areal como se estivesse a chegar à conclusão de uma longa viagem por terras estrangeiras.
A casa de papel reapareceu no horizonte dos pinheiros. Os nómadas tinham já desmontado as tendas. Agora era preciso percorrer mais vinte e cinco quilómetros, reacender as chamas artísticas eléctricas e electrónicas, registar mais meia hora de imagens para salvar trinta segundos.
Ofereceu boleia ao realizador. Falariam pelo caminho. A caravana levantou voo.
— Já pensaste em como tudo seria diferente se aqui houvesse elefantes? — observou ele.
— Para quê? Não chegam já os camelos?
— Não sabia que também pensavas assim.
— Nem eu.
Era preciso conduzir depressa, para flutuar sobre o asfalto descorado e esburacado. O mar desaparecera por completo. As casas começaram a nascer, a pouco e pouco, e em instantes viram-se às portas da cidade. Nenhuma autoridade local trouxe a chave dourada para as celebridades anónimas, e o voyeur disse:
— Tens de convencer os teus actores de que não estás a fazer um filme intelectual.
— Não estou?
— Não. Sabes bem que não. É um filme árido, uma tela em branco onde se vão pintar sentimentos, manifestações sensoriais. A intelectualidade estragaria tudo isso. Quando a actriz diz: “tenho fome”, basta apenas que se defina que fome é essa. Que fomes. Ela que não faça amor, que não coma nem converse com ninguém durante dois dias, e com certeza que há-de descobrir o perfeito equilíbrio para a sua imagem.
— Nenhum deles é religioso a esse ponto.
— E, todavia, têm deuses. Divindades que lhe fazem falta. Crenças.
— Afinal, o que é que tu querias? Qual é a tua ideia?
O silêncio avançou através do ruído das coisas e do calor, nas ruas estreitas, no ronco rouco dos motores. Havia edifícios com arbustos nos telhados, paredes em cimento amparadas por cartazes publicitários, figuras novas e velhas na película geral, onde combatiam, cada vez mais surdamente, o furor e a ferrugem.
— Eu li o livro — disse ele. — E tu?
— Eu li tudo.
— Claro. És o realizador — Fez uma pausa. — A questão não é o que eu quero, mas sim o que faz falta: encher o copo com água, dar-lhe uma tempestade... E depois, ir ver o mar.
— Um dos teus males, quando falas, é o de usares, às vezes, símbolos de mais.
— Às vezes? — Já mo tinham dito. Mas a manipulação dos símbolos permite-me conciliar melhor todas as realidades de que me apercebo. E, por enquanto, ainda não sei ser de outro modo.
A partir daqui, silenciaram. O trânsito estava espesso. Ultrapassaram, foram ultrapassados. Contornaram rotundas. Os semáforos acendiam-se para verde, avançava-se devagar. Chegaram, enfim, à outra casa. Tornaram a montar o acampamento, depressa, como se estivessem a participar numa corrida. Mas as pessoas estavam irmanadas pela boa disposição; viviam uma aventura, e isso fazia-as felizes.
Um halo de luz azul encheu, de súbito, o corredor. Cinza, vultos a passar. Ruídos, vozes, situações.
Desviou-se dos cenários a passar e saiu. Havia um café em frente, alguns mirones, a violência contida da hora de ponta. Sentou-se a uma mesa e pediu um café ao empregado. Estava junto ao vidro, como numa montra, manequim, a olhar a rua através dos olhos de vidro. Ligou o motor da sua máquina de filmar automática e deixou-a registar o que havia.
Mas era sempre, tudo o mesmo: as mesmas mulheres divorciadas, os mesmos miúdos de um liceu, os mesmos velhos bêbados, as mesmas sopeiras, os mesmos heróis solitários.
Introduziu um ensaio de guião na memória e esperou que a máquina conseguisse alcançá-lo.
“Não percebo nada disto”, disse a figura. “Só conheço uma verdade”.
Tinham discutido o medo, o desejo, os sentimentos. Nada se deixara agarrar. O morto-vivo crescia no écran, e o espectador colocava-se por trás da câmara, enquanto uma voz dizia: “continua assim, estás verdadeiramente assustador”. No enorme bar do estúdio 3, os vampiros tomavam bebidas tropicais ao lado de dois gladiadores, de uma starlette e de alguns cowboys. O espectador apercebeu-se então de todo o ridículo daquela situação: as brincadeiras dos adultos, os seus mitos, os seus negócios. Mas era verão, e ninguém tinha piedade de ninguém.
“Muitos mortos?”, comentou um dos cowboys para um dos vampiros.
A starlette apoiou os seios semi-desnudados sobre o balcão e pediu um copo de leite. Alguém se riu.
“Nós só bebemos sangue”, respondeu o vampiro ao cowboy perguntador. “Vocês é que são especialistas em mortes violentas”.
O morto-vivo chegou nesse momento do Taiti (estúdio 3, sala c), empestado de suor e maquilhagem.
Pediu uma coca-cola. Disse: “na Europa as coisas são bem diferentes”.
“Figurantes à sala b, cinco minutos”, anunciou uma voz imperativa, através dos altifalantes.
“Na Europa...”, recomeçou o morto-vivo.
“Vai-te lixar”, interrompeu-o um dos cowboys. “Aqui é o velho oeste, filho”.
Puxou do revólver, disparou-lhe dois tiros à queima-roupa e soprou o fumo do cano da arma, num gesto que se percebia ter sido minuciosamente estudado.
O morto-vivo bocejou. Acabou de beber a coca-cola, aproximou-se do cowboy que disparara, ergueu os braços lentamente, abriu a boca demente e fez: “buu”. Instintivamente, o cowboy recuou. O morto-vivo soltou uma gargalhada viva, e saiu.
As duas mulheres, na mesa do fundo, ainda jovens, olharam-no com uma certa intensidade, fazendo comentários inaudíveis, e o voyeur sentiu uma inesperada onda de desejo animal a percorrê-lo de alto a baixo.
Pagou o café, saiu, atravessou a rua por entre os carros parados e estacionados e reentrou na casa das filmagens.
Dominava de novo o peculiar silêncio de algo a acontecer, fora dos circuitos da normalidade citadina.
Por mais que a cidade fosse, ela própria, anormal.
Subiu as escadas que davam acesso ao primeiro andar, com degraus em madeira bafienta, abaulados, atingidos já pela inexorável velhice do uso.
A luminosidade azul tinha dado lugar a uma ambiência avermelhada, proibida, e começou a ouvir-se, cada vez com maior clareza, a voz paciente do realizador.
— ... o que eu quero dizer é isto: causas perdidas, talvez; falhadas, não.
Continuou a avançar, a sorrir. Aquelas palavras, fora ele que lhas dissera, ainda nem há uma hora.
Era bom ser-se compreendido, apesar de todas as artimanhas escondidas nos enredos.
O homem do chapéu deixara-o noutra cena. Agora ia rodar-se uma sugestão de amor. A mulher estava nua sob os lençóis e o cobertor, sobre a cama nua encostada a uma das paredes do quarto nu. Escutava o que o realizador dizia. Todos o escutavam, aliás: era dele o dinheiro que fazia mover aquela engrenagem, e por isso tornava-se importante perceber o que ele pretendia, ao certo.
— O que eu pretendo — prosseguiu ele, a propósito — é obter o máximo de resultados com o mínimo de meios. O vosso trabalho de actores torna-se assim duplamente responsável e significativo, a partir do momento em que vocês são, simultaneamente, o sujeito, o predicado e os complementos directos, indirectos e circunstanciais da acção. Nesta cena, por exemplo, tu — apontou a actriz — és a imagem humana do ambiente que te rodeia. Não é o teu belo corpo que deve sobressair, mas sim a atitude de despojamento emocional que lhe possas dar. É a beleza ao abandono, e não uma sessão de fotografias eróticas para uma qualquer playboy. A nudez, aqui, é miserável. Não quero apelos aos sentidos. Quero paisagem e interrogação. — Silenciou. Concluiu: — Vamos filmar.
“E, todavia, ela está nua porque a nudez faz sempre apelo aos sentidos”, pensou ele, com um encolher de ombros íntimo. Era sempre tão curto o período de compreensão entre os seres, tão vulnerável.
Filmaram, violaram a película virgem. Os actores pensaram que um instante deles ia durar, inalterável. O realizador pensou no sentido oculto das coisas. O director de fotografia pediu os últimos ajustes na iluminação do quarto, para a cena derradeira. As câmaras quiseram encontrar nos rostos coisas que neles não havia.
Depois fumaram cigarros, beberam vinho. Combinaram um jantar num restaurante típico, num dos bairros boémios da cidade.
Lembrou-se do espectador, da ignorância do espectador, e de como era essa ignorância, a par de um conhecimento mais ou menos imperfeito da vida, que iria fazer com que o filme vivesse.
Entretanto, anoiteceu.
Ofereceu boleia ao realizador. Falariam pelo caminho. A caravana levantou voo.
— Já pensaste em como tudo seria diferente se aqui houvesse elefantes? — observou ele.
— Para quê? Não chegam já os camelos?
— Não sabia que também pensavas assim.
— Nem eu.
Era preciso conduzir depressa, para flutuar sobre o asfalto descorado e esburacado. O mar desaparecera por completo. As casas começaram a nascer, a pouco e pouco, e em instantes viram-se às portas da cidade. Nenhuma autoridade local trouxe a chave dourada para as celebridades anónimas, e o voyeur disse:
— Tens de convencer os teus actores de que não estás a fazer um filme intelectual.
— Não estou?
— Não. Sabes bem que não. É um filme árido, uma tela em branco onde se vão pintar sentimentos, manifestações sensoriais. A intelectualidade estragaria tudo isso. Quando a actriz diz: “tenho fome”, basta apenas que se defina que fome é essa. Que fomes. Ela que não faça amor, que não coma nem converse com ninguém durante dois dias, e com certeza que há-de descobrir o perfeito equilíbrio para a sua imagem.
— Nenhum deles é religioso a esse ponto.
— E, todavia, têm deuses. Divindades que lhe fazem falta. Crenças.
— Afinal, o que é que tu querias? Qual é a tua ideia?
O silêncio avançou através do ruído das coisas e do calor, nas ruas estreitas, no ronco rouco dos motores. Havia edifícios com arbustos nos telhados, paredes em cimento amparadas por cartazes publicitários, figuras novas e velhas na película geral, onde combatiam, cada vez mais surdamente, o furor e a ferrugem.
— Eu li o livro — disse ele. — E tu?
— Eu li tudo.
— Claro. És o realizador — Fez uma pausa. — A questão não é o que eu quero, mas sim o que faz falta: encher o copo com água, dar-lhe uma tempestade... E depois, ir ver o mar.
— Um dos teus males, quando falas, é o de usares, às vezes, símbolos de mais.
— Às vezes? — Já mo tinham dito. Mas a manipulação dos símbolos permite-me conciliar melhor todas as realidades de que me apercebo. E, por enquanto, ainda não sei ser de outro modo.
A partir daqui, silenciaram. O trânsito estava espesso. Ultrapassaram, foram ultrapassados. Contornaram rotundas. Os semáforos acendiam-se para verde, avançava-se devagar. Chegaram, enfim, à outra casa. Tornaram a montar o acampamento, depressa, como se estivessem a participar numa corrida. Mas as pessoas estavam irmanadas pela boa disposição; viviam uma aventura, e isso fazia-as felizes.
Um halo de luz azul encheu, de súbito, o corredor. Cinza, vultos a passar. Ruídos, vozes, situações.
Desviou-se dos cenários a passar e saiu. Havia um café em frente, alguns mirones, a violência contida da hora de ponta. Sentou-se a uma mesa e pediu um café ao empregado. Estava junto ao vidro, como numa montra, manequim, a olhar a rua através dos olhos de vidro. Ligou o motor da sua máquina de filmar automática e deixou-a registar o que havia.
Mas era sempre, tudo o mesmo: as mesmas mulheres divorciadas, os mesmos miúdos de um liceu, os mesmos velhos bêbados, as mesmas sopeiras, os mesmos heróis solitários.
Introduziu um ensaio de guião na memória e esperou que a máquina conseguisse alcançá-lo.
“Não percebo nada disto”, disse a figura. “Só conheço uma verdade”.
Tinham discutido o medo, o desejo, os sentimentos. Nada se deixara agarrar. O morto-vivo crescia no écran, e o espectador colocava-se por trás da câmara, enquanto uma voz dizia: “continua assim, estás verdadeiramente assustador”. No enorme bar do estúdio 3, os vampiros tomavam bebidas tropicais ao lado de dois gladiadores, de uma starlette e de alguns cowboys. O espectador apercebeu-se então de todo o ridículo daquela situação: as brincadeiras dos adultos, os seus mitos, os seus negócios. Mas era verão, e ninguém tinha piedade de ninguém.
“Muitos mortos?”, comentou um dos cowboys para um dos vampiros.
A starlette apoiou os seios semi-desnudados sobre o balcão e pediu um copo de leite. Alguém se riu.
“Nós só bebemos sangue”, respondeu o vampiro ao cowboy perguntador. “Vocês é que são especialistas em mortes violentas”.
O morto-vivo chegou nesse momento do Taiti (estúdio 3, sala c), empestado de suor e maquilhagem.
Pediu uma coca-cola. Disse: “na Europa as coisas são bem diferentes”.
“Figurantes à sala b, cinco minutos”, anunciou uma voz imperativa, através dos altifalantes.
“Na Europa...”, recomeçou o morto-vivo.
“Vai-te lixar”, interrompeu-o um dos cowboys. “Aqui é o velho oeste, filho”.
Puxou do revólver, disparou-lhe dois tiros à queima-roupa e soprou o fumo do cano da arma, num gesto que se percebia ter sido minuciosamente estudado.
O morto-vivo bocejou. Acabou de beber a coca-cola, aproximou-se do cowboy que disparara, ergueu os braços lentamente, abriu a boca demente e fez: “buu”. Instintivamente, o cowboy recuou. O morto-vivo soltou uma gargalhada viva, e saiu.
As duas mulheres, na mesa do fundo, ainda jovens, olharam-no com uma certa intensidade, fazendo comentários inaudíveis, e o voyeur sentiu uma inesperada onda de desejo animal a percorrê-lo de alto a baixo.
Pagou o café, saiu, atravessou a rua por entre os carros parados e estacionados e reentrou na casa das filmagens.
Dominava de novo o peculiar silêncio de algo a acontecer, fora dos circuitos da normalidade citadina.
Por mais que a cidade fosse, ela própria, anormal.
Subiu as escadas que davam acesso ao primeiro andar, com degraus em madeira bafienta, abaulados, atingidos já pela inexorável velhice do uso.
A luminosidade azul tinha dado lugar a uma ambiência avermelhada, proibida, e começou a ouvir-se, cada vez com maior clareza, a voz paciente do realizador.
— ... o que eu quero dizer é isto: causas perdidas, talvez; falhadas, não.
Continuou a avançar, a sorrir. Aquelas palavras, fora ele que lhas dissera, ainda nem há uma hora.
Era bom ser-se compreendido, apesar de todas as artimanhas escondidas nos enredos.
O homem do chapéu deixara-o noutra cena. Agora ia rodar-se uma sugestão de amor. A mulher estava nua sob os lençóis e o cobertor, sobre a cama nua encostada a uma das paredes do quarto nu. Escutava o que o realizador dizia. Todos o escutavam, aliás: era dele o dinheiro que fazia mover aquela engrenagem, e por isso tornava-se importante perceber o que ele pretendia, ao certo.
— O que eu pretendo — prosseguiu ele, a propósito — é obter o máximo de resultados com o mínimo de meios. O vosso trabalho de actores torna-se assim duplamente responsável e significativo, a partir do momento em que vocês são, simultaneamente, o sujeito, o predicado e os complementos directos, indirectos e circunstanciais da acção. Nesta cena, por exemplo, tu — apontou a actriz — és a imagem humana do ambiente que te rodeia. Não é o teu belo corpo que deve sobressair, mas sim a atitude de despojamento emocional que lhe possas dar. É a beleza ao abandono, e não uma sessão de fotografias eróticas para uma qualquer playboy. A nudez, aqui, é miserável. Não quero apelos aos sentidos. Quero paisagem e interrogação. — Silenciou. Concluiu: — Vamos filmar.
“E, todavia, ela está nua porque a nudez faz sempre apelo aos sentidos”, pensou ele, com um encolher de ombros íntimo. Era sempre tão curto o período de compreensão entre os seres, tão vulnerável.
Filmaram, violaram a película virgem. Os actores pensaram que um instante deles ia durar, inalterável. O realizador pensou no sentido oculto das coisas. O director de fotografia pediu os últimos ajustes na iluminação do quarto, para a cena derradeira. As câmaras quiseram encontrar nos rostos coisas que neles não havia.
Depois fumaram cigarros, beberam vinho. Combinaram um jantar num restaurante típico, num dos bairros boémios da cidade.
Lembrou-se do espectador, da ignorância do espectador, e de como era essa ignorância, a par de um conhecimento mais ou menos imperfeito da vida, que iria fazer com que o filme vivesse.
Entretanto, anoiteceu.